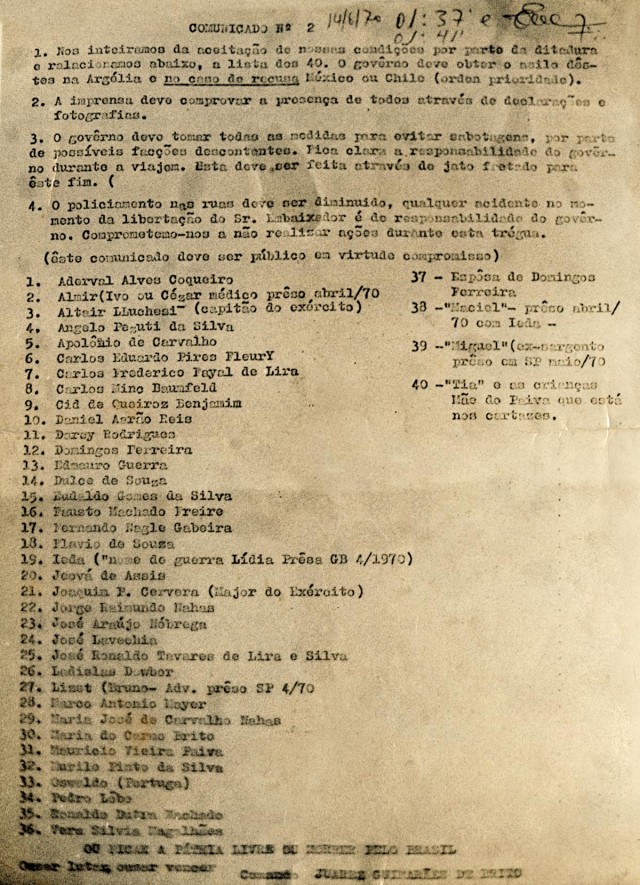Ele era um daqueles torcedores fervorosos do futebol, porém, mais do que isso, era um trabalhador negro, brasileiro de esquerda, com fervor e emoção aplicados em demasia positiva toda vez que presenciava o campeonato mundial.
Embora eu e uma parcela considerável da esquerda ainda não tenhamos conseguido atingir, talvez, um tal “grau de evolução”, para vestir camisa verde e amarela, certamente meu pai, se estivesse aqui, jamais toparia a alternativa de vestir camisa vermelha só para ter um certo orgulho de não constar em sua história a marca de “parecer” um manifestoche. Essa fase ele já havia ultrapassado há tempos.

Para papai, torcer na Copa era momento de dizer que as cores verde, amarela, azul e branco eram dele, sim, e de quem se identificasse com a luta diária por um país menos desigual. Ainda mais seria em tempos tão duros – quando ele viveu para lutar nos debates, nas ruas e no Nordeste, onde vivia, contra a Ditadura por duas vezes, o impeachment de uma presidenta legitimamente eleita e a prisão do único ser que ele também chamava de “o cara”. Sobre esses dois últimos fatos, ele sempre falava: “minha filha, o que está acontecendo? Você que está aí em São Paulo, pode me explicar?”
Então, para relembrar os tantos encontros que fizemos em dias de Copa, com a casa cheia e a família reunida para assistir aos jogos, saímos da missa do 7o dia de seu falecimento com a leveza dos abraços, das palavras e das inúmeras formas de carinho que recebi dos amigos. Decidi fazer o que ele certamente faria se estivesse aqui, neste 17 de junho de 2018: ver a estréia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
Estar com a família num local repleto por um misto de manifestoches, com gente de origem nordestina, roceira, gente da gente, não foi tarefa fácil. Mas foi ali que percebi que há beleza e racionalidade no luto.

No luto, mirar os olhos de um povo esperançoso pela vitória do Brasil é uma das maiores alegrias que a gente pode ter.
No único gol desse domingo, foi momento de me sentir carregada pelo meu pai; como ele sempre fazia para comemorar. Até a visão da chuva de papel picado eu tive. Deixe-me explicar: quando criança, nas semanas que antecediam os jogos, meu pai reunia na sala do apartamento os jornais velhos e nós cortávamos aquelas centenas de folhas, para depois, fazermos a tal chuva, pela janela do apê a cada gol do Brasil. Era época de uma CBF diferente da que temos hoje, ou talvez, éramos mais felizes e os paneleiros nem pensavam em existir. Tínhamos Sócrates, depois veio o Raí. Papai também me apresentou outros craques legais, daqueles, do jeito que a gente da esquerda gosta.
Hoje nós temos um Neymar, menino de origem pobre que se transformou numa das figuras mais bizarras do mundo capitalista; que joga truco e faz leque de nota de 100 reais para expor foto nas redes sociais. É, os tempos são outros e já não temos a mesma sorte. Difícil existir atletas preocupados em trazer a tão cobiçada taça só para que o povo fique feliz.
Há uma semana, meu pai assistia a bola rolar pelo Brasil, consciente de tudo isso, mas usava sua habilidade com as regras e as tabelas futebolísticas para debater política e golpe. Nos últimos tempos, mesmo doente, e embora de modo mais sútil, teve sucesso em muitas das vezes nos espaços por onde passava. Lugares muito parecidos com esse onde estive.
O jogo foi morno, mas a esperança que aprendi a enxergar pelos olhos do meu velho não morrerão. E das inúmeras lições que ficam, certamente a mais importante é essa da gente continuar fazendo o bom debate contra as desigualdades por mais vidas felizes. Quero muito continuar aqui por mais tempo para colocar em prática tudo o que um velho negro de esquerda lá do Nordeste me ensinou. E, quem sabe, encarar de novo um “local misto” para assistir a próxima partida do Brasil na Copa. Acredito que meu pai vai ficar orgulhoso e feliz de me ver fazendo uma das coisas que ele mais amava.
É tempo de renascer!



 7 anos atrás
7 anos atrás
 Política7 anos atrás
Política7 anos atrás
 7 anos atrás
7 anos atrás
 Lava Jato7 anos atrás
Lava Jato7 anos atrás
 Educação7 anos atrás
Educação7 anos atrás
 #EleNão7 anos atrás
#EleNão7 anos atrás
 Política7 anos atrás
Política7 anos atrás
 Eleições Municipais 20168 anos atrás
Eleições Municipais 20168 anos atrás