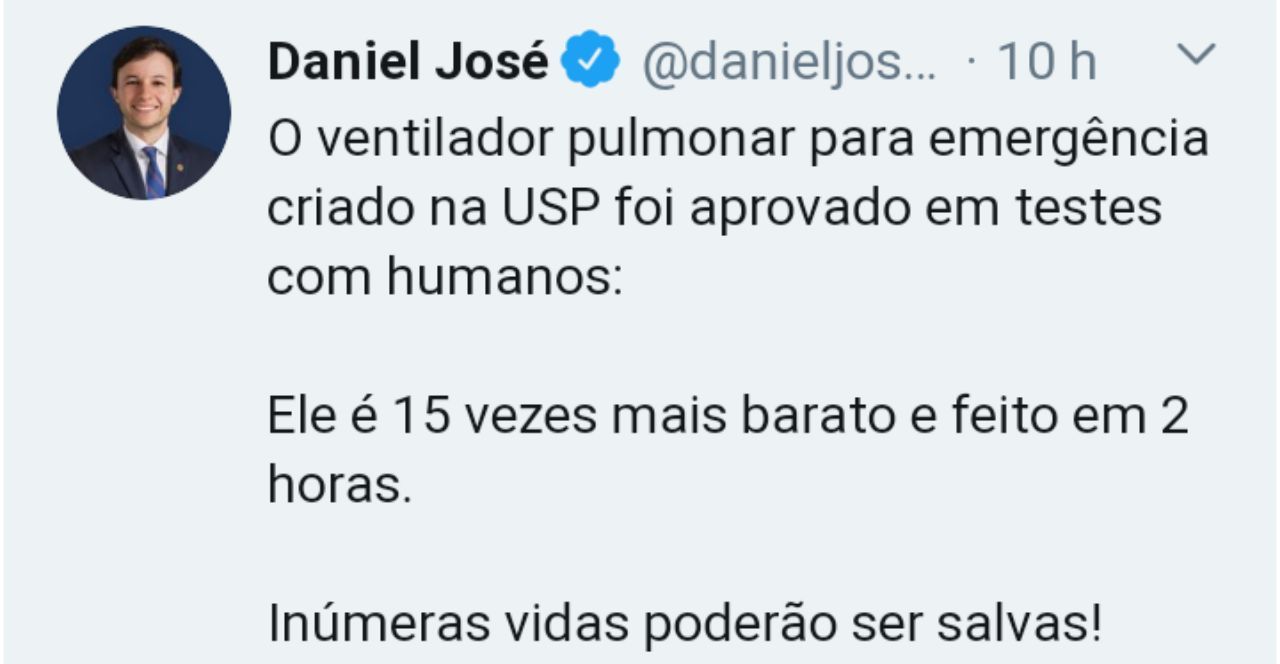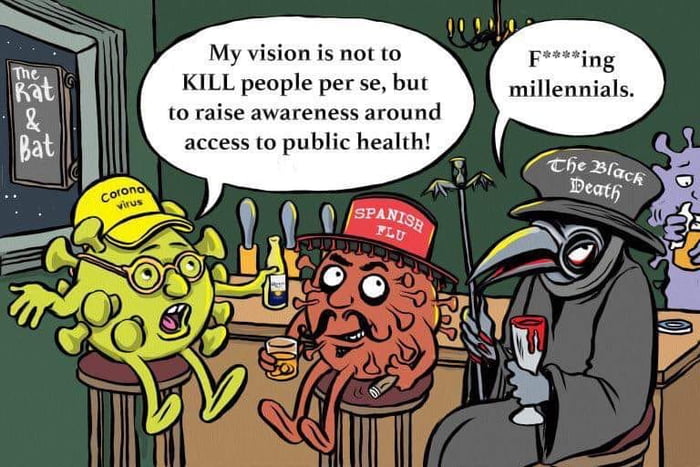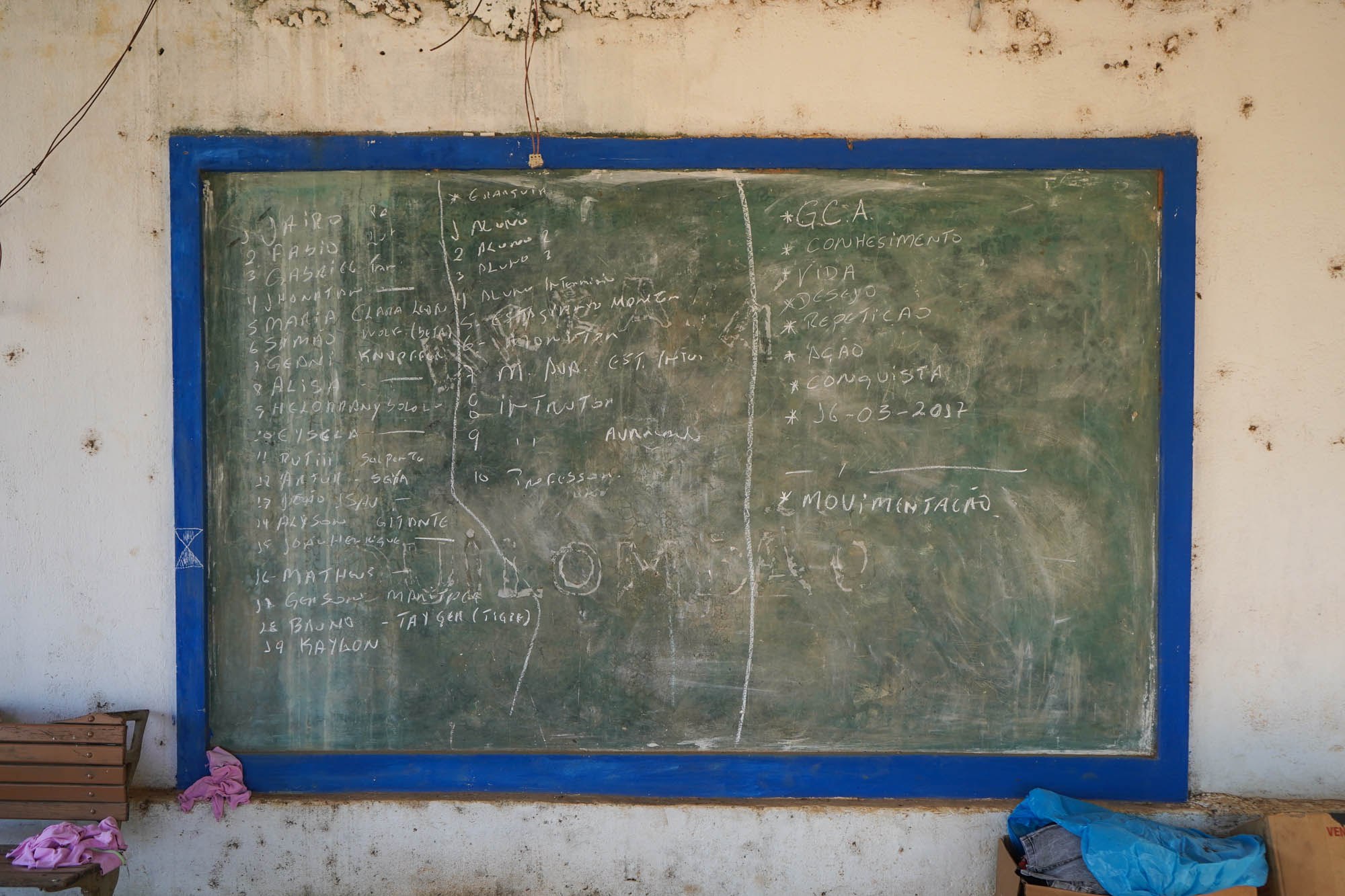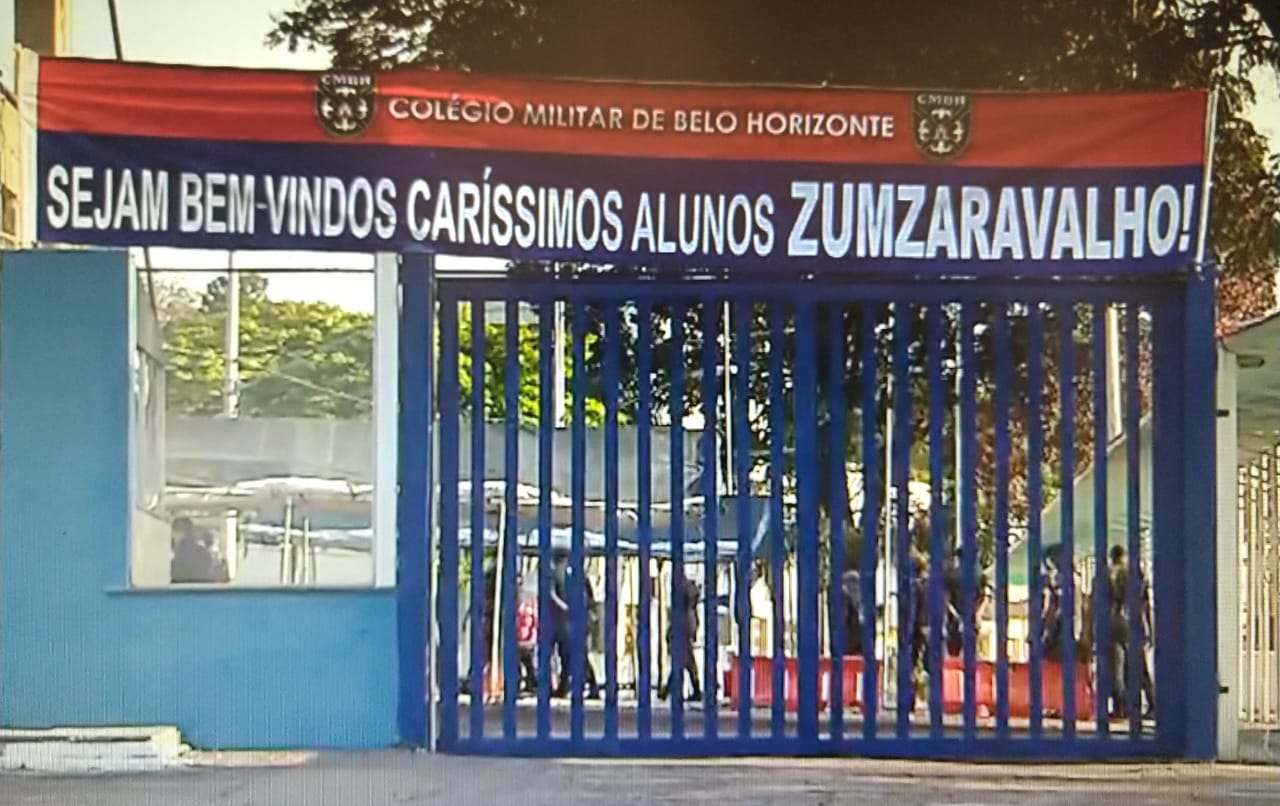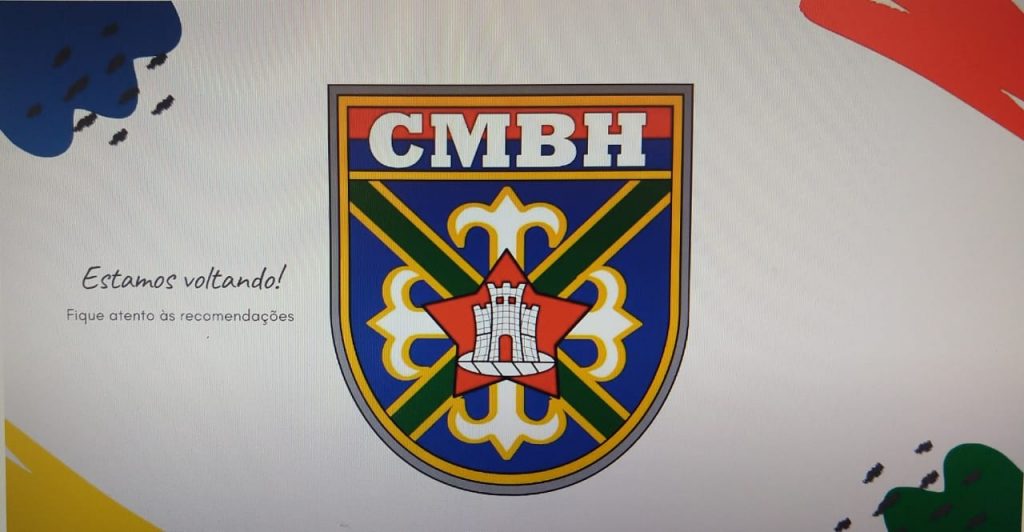São 00h40m. Transcorre o início de mais um dia (23/10) após aquele em que a Universidade de São Paulo consultou sua comunidade universitária sobre a reitoria da instituição.

O voto dos eleitores indicou eleição da professora Maria Arminda (foto), mas quem elege mesmo o reitor da universidade de São Paulo não é o voto direto, mas a consulta a uma assembleia de representantes, um colegiado específico das mais diversas representações da universidade. Fora isso, feita a escolha nessas duas etapas, quem nomeia é o governador, cujo partido governa o estado há mais de 20 anos, e que não tem o costume de indicar o primeiro da lista tríplice.
A lista tríplice é um objeto de governos autoritários, mas incorporado aos governos democráticos pós-1985. Porém, o que chama atenção nessa eleição na USP é a capacidade de uma democracia sem voto. Os eleitores não elegem diretamente o reitor que, há muitas décadas, é nomeado pelo governador.
Sempre quando se fala em país, a USP é um laboratório, para o bem e para o mal.
Desde sua fundação, em 1934, o pensamento social brasileiro tem sido influenciado profundamente pelos quadros teóricos e científicos da universidade. Como parece ser óbvio, mesmo não sendo, a USP já elegeu alguns presidentes da república e o alto escalão de muitíssimos governos. Se foi palco de resistência à ditadura militar, foi também laboratório do golpe aplicado contra a democracia brasileira em 2016, quando a presidenta Dilma foi impedida.
Nos últimos anos, o discurso tucano na universidade tem se inclinado pelo congelamento de expansão da pós-graduação, como se isso fosse automaticamente levar à qualidade, além da expansão do pós-doutorado, revelando a opção da universidade em precarizar o trabalho docente. Além disso, o investimento público reduziu drasticamente graças a uma crise de receita, muito parecida com a do país, com a diferença de que, no país, a crise, ao contrário do pregou Haddad em “Vivi na pele o que aprendi nos livros” (Revista Piauí, junho de 2017), não foi causada por problemas pontuais (como corrupção), mas por excesso de sonegação fiscal, perdão fiscal e falta de auditação da dívida pública interna. Na USP a crise tem uma série de fatores, e a maioria deles está ligada ao privilégio branco de ser intelectual branco na “mais importante universidade brasileira”.
Faz muito, muito tempo que a USP não é a mais importante universidade brasileira. Nas últimas duas avaliações trienais, a USP teve o sinal vermelho da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes) e resolveu ignorar. A fama era maior que a produção científica há muito tempo e a universidade não se preocupava, apenas ignorava. O resultado se confirmou e vem se confirmando.
Não se pode negar a importância da universidade, para São Paulo e para o país. Com capacidade gigante de inserção e apresentação, a universidade formou quadros de todos os setores do mundo do trabalho profissional, cientistas e intelectuais que contribuíram de forma muito importante para o país. Mas a USP parou na história e vive ainda o rancor de não ter vencido a guerra intelectual dentro da guerra que São Paulo trava contra o país desde 1932.
Não deu outra. Foi na era Lula que as universidades federais avançaram tanto, muitas ainda mais que a USP em muitos quesitos, entre eles qualidade. Mas a USP não fez um milímetro para acompanhar o país. Enquanto há dez anos a política de ações afirmativas dava seus primeiros passos nas primeiras grandes universidades estaduais, a USP estava imóvel, saudando o século XX que lhe criara. Precisou ver o país mudar e nem assim se moveu.
A USP tem cara e cor.
A branquitude da classe média paulistana. Tem classe, aquela dos frequentadores dos grandes clubes de Pinheiros e das mansões do Morumbi. Nem vendo a emergência e grandeza da política de ações afirmativas nas universidades federais se mexeu. Com a reserva de vagas, o Brasil deu um salto e novas demandas foram criadas. A verba da assistência estudantil no país quase chegou a 1 bilhão, e a USP sustentava sua pose de irmã mais velha intelectualizada que não ouve as demais, com o dinheiro sendo aplicado em sustentações de luxo e uma relação dúbia entre público e privado.
Em tempos de fascismo de volta, seu papel está em cheque. Aqueles que defendem a cobrança de mensalidade nas universidades públicas a tomam mais uma vez como exemplo, mesmo ela não sendo mais exemplo de nada. Os dados públicos mostram claramente que, ao contrário dela, a maioria dos estudantes de federais vêm de famílias de baixa renda. Mas ela segue sendo o espelho que a direita brasileira tenta transformar de país e é nela que eles avançam com tanta força de sucateamento, chegando ao cúmulo de demissões de milhares de trabalhadores e cortando todos os investimentos possíveis.
Se, por um lado, a sua privatização é defendida por uma extrema-direita fascista, sua administração é gerida há décadas por uma direita republicana, e seu movimento social oscila entre os setores mais irresponsáveis e inconsequentes da extrema esquerda. Nem nos lugares mais longínquos e coronelistas do país é possível ver setores com tanta dificuldade de diálogo. Talvez uma prova de que conhecimento não tenha nada a ver com capacidade de dialogar.
É com o pesar do olhar focado no desmonte que a universidade vem sofrendo que esperamos o resultado final da consulta para reitor, na certeza de que a democracia uspiana não pode ser exemplo nenhum para um país continental, de tantas riquezas e jeitos, e que não precisa de “locomotiva” de pensamento nenhum para pensar.
Gabriel Nascimento é doutorando em Letras pela USP, professor, autor de “Este fingimento e outros poemas” e “O Maníaco das onze e meia”, diretor da ANPG e da APG Usp Capital.


 7 anos atrás
7 anos atrás
 Política7 anos atrás
Política7 anos atrás
 7 anos atrás
7 anos atrás
 Lava Jato6 anos atrás
Lava Jato6 anos atrás
 Educação6 anos atrás
Educação6 anos atrás
 #EleNão7 anos atrás
#EleNão7 anos atrás
 Política7 anos atrás
Política7 anos atrás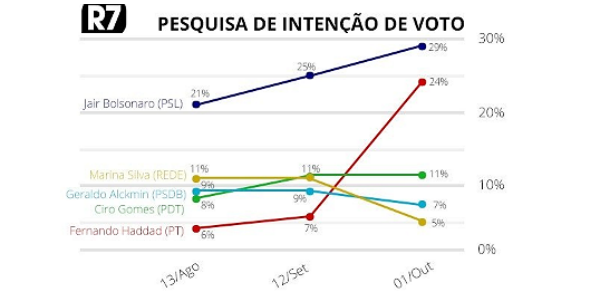
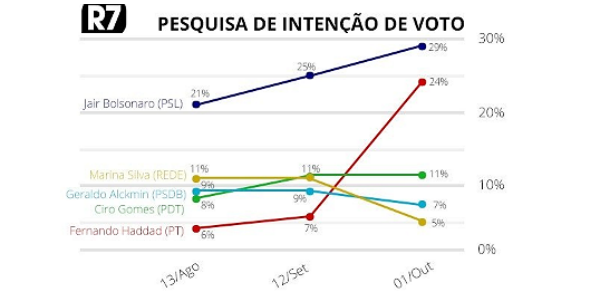 Eleições 20187 anos atrás
Eleições 20187 anos atrás