Coronavírus
“Nossos idosos são nossa memória”: o medo da covid-19 nos quilombos
Publicadoo
6 anos atrásem

Com reportagem de Flávia Martinelli e Jéssica Ferreira, especial para o blog MULHERIAS
Todo quilombo é memória viva. Cada espaço de resistência criado por remanescentes de escravizados é mantenedor da cultura e da história afro-brasileira. Os 2.847 territórios reconhecidos, apenas entre os certificados no Brasil, carregam em seu cotidiano aquilo que os livros não contam. São, por si só, espaços educacionais preciosos. E ainda há centenas, talvez milhares, que sequer foram mapeados – algo que o Censo de 2020, atualmente adiado, iria quantificar e é fundamental para a discussão de políticas públicas. A negligência diante do risco de contágio pelo coronavírus nessas comunidades representa (mais um) risco de extermínio institucional.
Se no passado quilombos lutaram por liberdade no regime escravista, hoje é o descaso e até a inconstitucionalidade do Estado que comprometem vidas de remanescentes, além do acesso ou preservação de suas terras, natureza e ensinamentos ancestrais. Na última sexta-feira (27), por exemplo, em meio à pandemia do covid-19, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, assinou e anunciou que o Brasil irá remover as mais de 100 comunidades quilombolas de Alcântara, no Maranhão.

O Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê a consulta prévia, livre e informada sobre instalação e impactos de projetos em territórios tradicionalmente ocupados (Foto: Reprodução/Conaq)
Triste ironia, no século 19, bem à época da escravidão, as ricas famílias de fazendeiros de açúcar e algodão em decadência econômica abandonaram a cidade quando uma epidemia, provavelmente de febre amarela, se abateu no local. Apenas negros e indígenas permaneceram entre os casarões e a doença. Lá permaneceram desde então. São os donos das terras, portanto, por posse e direito adquirido, ainda que a luta por reconhecimento como terra quilombola nunca tenha chegado a um acordo.
A expulsão, que vai contra a recomendação de isolamento social, é motivada pelo convênio que o presidente Jair Bolsonaro fez com os Estados Unidos, para uso do local como mais uma base espacial norte americana. O ato viola a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre Povos Indígenas e Tribais. Em repúdio, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) pressiona o Estado por políticas públicas adequadas, principalmente diante da pandemia.

Fábrica de bolos da comunidade quilombola do Canelatiua em Alcântara: populações expulsas em plena pandemia para construção de base espacial americana (Fotos: Reprodução Facebook)
A violência institucional se somou a outra na mesma semana, quando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em pronunciamento público, afirmou que há presença de SUS em 100% dos quilombos de todo o país. Não é verdade. Ainda que o trabalho de visita de profissionais do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) seja muito bem avaliado, houve impacto na saída dos médicos cubanos no Brasil nas áreas rurais e, por consequência, nos quilombos. A precariedade das dinâmicas de saúde, quando existem, ou das complicações do deslocamento para atendimento em municípios vizinhos, também continuam na pauta de reivindicações do movimento quilombola.
A política de morte que dá licença para matar
Em tempos de covid-19, todas essas dificuldades se intensificam e amedrontam quilombos que, culturalmente, reverenciam e exaltam seus sábios anciãos, os chamados griôs. “Eles são nossa memória e nossa história. Telefono aos mais velhos e explico que eles não podem mais, como de costume, ir na casa um do outro”, conta a cientista social Marta Quintiliano, do Quilombo Vó Rita em Goiás. Ali, o posto médico mais próximo fica a 35 minutos a pé da comunidade.
Marta cita o filósofo e professor camaronês Achile Mbembe para esclarecer que as negligências tem endereço. “Sim, existe uma necropolítica e um necropoder que, juntos, escolhem os sujeitos que vão morrer e que vão viver”, menciona. A teoria escancara a crueldade das práticas de morte de governantes que priorizam a criação de políticas públicas voltadas para populações que não são as que mais necessitam delas. O poder estatal ganha, assim, licença para matar e têm alvo certeiro: povos periféricos, indígenas, negros, quilombolas e vulneráveis.
Diante desse cenário, a autogestão dos riscos foi a saída dos moradores do Quilombo Ivaporunduva, que fica em Eldorado, município paulista da região do Vale do Ribeira, uma das mais pobres do país, e cidade natal do presidente Jair Bolsonaro. Ali, a própria comunidade fechou estradas, passou a controlar acessos ao território em três turnos, montou equipes para idas e vindas à cidade e visitas de casa em casa para saber das necessidades de todas as famílias. “Se por aqui alguém contrair o coronavírus, existe muita pouca chance de resistir”, desabafa a educadora e moradora Cristiana Monteiro.
Já a mineira Maria das Graças Epifânio, filha da histórica Dona Tiana do quilombo urbano Carrapatos da Tabatinga, localizado em Bom Despacho, a 156 quilômetros de Belo Horizonte, sabe que o racismo está enraizado na visão do que são as culturas, tradições e sabedorias afro-brasileiras e o quanto isso impossibilita a construção de políticas direcionadas. “Não tem aquele respeito, não tem uma cartilha ou protocolos que expliquem aos profissionais da saúde as características da nossa comunidade ou necessidades pontuais. É uma questão de olhar e entender, de maneira respeitosa, as nossas tradições”, detalha.
Confia os depoimentos das três mulheres quilombolas que, diante da pandemia, lutam para proteger seus idosos e, portanto, parte de sua história e legado.
“O posto de saúde mais próximo fica a 35 minutos a pé do nosso quilombo”
“E se algo acontecer e nos contaminar? O que vamos fazer? A probabilidade do vírus se espalhar é enorme e a morte será em massa nos quilombos ou entre os indígenas”, preocupa-se Marta Quintiliano, de 37 anos, doutoranda em antropologia social na Universidade Federal de Goiás (UFG). Moradora do Quilombo Vó Rita, no município de Trindade, da região metropolitana de Goiânia (GO), ela conta que na comunidade existem de cerca de 200 pessoas; 50 são idosos. O posto de posto de saúde mais próximo, porém, fica a 35 minutos andando a pé e não há hospital para uma consulta ou atendimento especializado na região.
O local tinha características rurais, com roçado, até ser engolido pela urbanização. Na transição que a comunidade ainda vivencia, são os mais velhos que contam as histórias de Rita Felizarda de Jesus, que nasceu em 1909, neta de escravizados que deram origem ao quilombo. Vó Rita teria chegado a Goiás com a família vinda da Bahia a pé, depois de uma previsão, surgida à época, de que o mundo acabaria e que o primeiro local a ser atingido seria onde moravam antes.

Marta, doutoranda em antropologia e quilombola: “telefono aos nossos mais velhos e explico que eles não podem mais, como de costume, ir na casa um do outro” (Foto: Isabela Alves)
No quilombo, Vó Rita teve 11 filhos que criou com o emprego em uma fábrica de farinha na cidade e lavando roupa pra fora. As filhas a ajudavam no trabalho doméstico e na fábrica, os filhos plantavam arroz, mandioca, milho e outros produtos que compartilhavam com a comunidade. Tradições como os bailes, cantigas e rezas são legados que os mais velhos ainda contam.
O avanço urbanístico na área do quilombo mudou essa rotina sem, no entanto, trazer a infraestrutura médica necessária à comunidade. “O que temos é uma agente de saúde que vem até a comunidade atender a todos. Mas, neste momento de pandemia, ela não está vindo visitar as casas, segundo ela, por questões de segurança”, explica Marta. “Quando acontece alguma coisa, se alguém está doente, a gente liga e pergunta o que é melhor fazer. Agora todo mundo está com medo.”
Marta conta que muitos na comunidade precisam se submeter a trabalhos com risco de contágio. São ofícios em jardinagem e empregos de motoristas e empregadas domésticas. “Temos um alto índice de serviços informais e desemprego. Não temos condições financeiras nem de comprar álcool gel”, pontua enquanto conta que não houve distribuição do produto no local e explica que a estratégia da comunidade é permanecer dentro de casa e fazer a lavagem adequada das mãos.
Política pública não é apenas avisar para não sair de casa
Aos mais velhos, ela explica os motivos para não mais ficarem, como de costume, indo um na casa do outro e reforça a importância de manter o isolamento. “Mas é difícil. Aqui em casa, por exemplo, tem um monte de idoso. Os que têm doenças não saem de jeito nenhum… E é isso: seguimos conversando com nossos mais velhos orientando por telefone, porque estão angustiados.”
Mas isso não é uma política pública, muito menos específica aos que, de maneira tão brasileira, marcaram a identidade do Brasil com seus benzimentos, a devoção a São Sebastião e a Santo Antônio e a manipulação de ervas na cura de enfermidades que até hoje a ciência está estudando. “Atenção à saúde com essa população precisa ir além de informação que vem da TV. Aqui, só o que dizem é pra não sair.”
“Os idosos são a nossa história, parte da nossa resistência”
A agricultora familiar e educadora Cristiana Marinho, de 35 anos, entende que o combate ao coronavírus no Brasil está vinculado ao enfrentamento da desigualdade e da negligência do Estado. Sabe também que essa combinação representa um risco enorme às comunidades periféricas e historicamente ignoradas ou mesmo vistas como inimigas por agentes do poder. Cristiana é moradora do Quilombo de Ivaporunduva, que fica em Eldorado, município paulista da região do Vale do Ribeira, uma das mais pobres do país, e cidade natal do presidente Jair Bolsonaro.
“É muito preocupante. Se a gente perde parte desses idosos, é nossa história que se perde. Queremos cuidar deles de todas as formas para que não sejam contaminados. Se por aqui alguém contrair o coronavírus, existe muita pouca chance de resistir”, desabafa. Ela cita a precariedade da estrutura de saúde pública da cidade da família do político que comanda o país. “O município não tem UTI e nem mesmo equipamentos de oxigênio e intubação.”

Cristiana, do Quilombo Ivaporunduva: a própria comunidade fechou estradas, passou a controlar acessos ao território e montou equipes para idas à cidade e visitas de casa em casa para saber das necessidades de cada família (Foto: acervo pessoal)
Os moradores de Eldorado dependem do hospital regional, de Pariquera que segundo Cristina, tem apenas 39 leitos de UTI. “Estão sendo instaladas mais dez, mas ainda é muito pouco para um número muito grande de gente. Sabemos que é perda mesmo, caso não haja cuidado”. O Vale do Ribeira abriga uma população de quase 500 mil habitantes e inclui em sua área de 31 municípios; nove paranaenses e 22 paulistas.
A resistência, como sempre, é construída no “nós por nós”
As comunidades quilombolas da região avaliam o turismo e a ida à cidades como fatores de alto risco de transmissão do vírus. Os próprios moradores de Ivaporunduva, então, bloquearam estradas locais e, por si, vigiam os acessos durante os três turnos. Ninguém entra e ninguém sai. Dentro da comunidade, de cada território, há coordenadores para lidar com a crise.
Há equipes que cuidam da divulgação de informações, outras cuidam de compras de remédios ou mantimentos na cidade. Parte da alimentação vem das roças orgânicas, mas há alimentos que ainda precisam aguardar a colheita. “Tem também um grupo que vai de casa em casa para saber o que está faltando para cada família. Estamos fazendo de tudo para que ninguém precise sair do isolamento social”, explica Cristiana. “Fiz também um apelo ao posto emergencial de saúde por causa da falta de materiais de prevenção, como álcool em gel, máscaras, luva. Isso deveria ser fornecido, mas que nem os profissionais da saúde têm.”
Mecanismos de resistência, como sempre, estão sendo construídos por e para eles. “A comunidade está unida, mais do que nunca, para vencer essa luta. Se aos que estão nas cidades já é difícil, nos territórios quilombolas é ainda mais por questões de logística, de transporte, de cuidado e de um olhar diferenciado que não existe nessa questão da saúde para o nosso povo.”
“Falta aos profissionais de saúde um protocolo de respeito às características da nossa comunidade. É uma questão de olhar, de entender as nossas tradições”
Diferente de muitas realidades, há dois anos, toda a dinâmica da saúde pública mudou para melhor no quilombo urbano Carrapatos da Tabatinga, localizado em Bom Despacho, em Minas Gerais, a 156 quilômetros de Belo Horizonte. “A chegada do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), foi muito boa pra comunidade toda; tanto pra nós, quilombolas, quanto para quem não é. E é um conforto que a gente tem; não precisar correr léguas para ter atendimento”, conta a moradora da comunidade e técnica de saúde bucal Maria das Graças Epifânio, de 48 anos.

Graça, do quilombo urbano de Carrapatos e Tabatinga: o racismo, enraizado na visão do que são as culturas, tradições e sabedorias afro-brasileiras, impossibilita a construção de políticas direcionadas. (Foto: Isabela Alves)
Graça elogia a facilidade de acesso à equipe médica que vai até a comunidade para intervir nos fatores que colocam a saúde em risco. De fato, pesquisas apontam que a política pública promove maior adesão a tratamentos e evita intervenções de média e alta complexidade. Esse nível de atenção resolve 80% dos problemas de saúde da população. Ainda, assim, ela pontua que a população quilombola tem especificidades culturais que devem ser respeitadas pelos agentes da saúde. “Em geral, colocam tudo no mesmo balaio e vão levando. Não precisava ser assim”.
Filha da matriarca do quilombo, Dona Tiana, falecida no ano passado aos 87 anos, Graça segue a militância pelos direitos quilombolas e é coordenadora de Igualdade Racial da Secretaria de Cultura da prefeitura de Bom Despacho. Ela sabe que o racismo está enraizado na visão do que são as culturas, tradições e sabedorias afro-brasileiras e o quanto isso impossibilita a construção de políticas direcionadas. “Não tem aquele respeito, não tem uma cartilha ou protocolos que expliquem aos profissionais as características da nossa comunidade ou necessidades pontuais. É uma questão de olhar e entender, de maneira respeitosa, as nossas tradições”, detalha Graça.
Dona Tiana, sua mãe, lutou pelo reconhecimento e certificado da comunidade como quilombo urbano da comunidade que, justamente, é referência na valorização da identidade e legado da cultura afro-brasileira. A líder incentivou e criou de grupos de dança afro, afoxé, teatro, capoeira, congado e até uma escola de samba. Detentora de saberes tradicionais, foi “zeladora de Santo”, filha de São Sebastião e benzedeira, reconhecida por toda comunidade de Bom Despacho, pelo poder público e entidades locais enquanto Dandara, sinônimo da resistência quilombola. Veja, abaixo, o documentário sobre sua vida e legado.

Você pode gostar
-


Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #65 – Malu Ornelas: Ela Resiste
-


Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #64 – Vinícius Neves: Você Nunca Existiu
-


Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #63 – André Vidal: Colagem do Fim do Mundo
-


Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #62 – Mayra Azzi: Ponto de Vista
-


Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #61 – Milena Abreu: O Verão Agora Acaba
-


Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #60 – Júlio César Almeida: Identidade
Coronavírus
Após ameaça de corte de salários, 8 professores indígenas morrem por covid-19 em RR
Publicadoo
6 anos atrásem
18/07/20por
Martha Raquel
Um áudio da Chefa da Divisão de Educação Escolar Indígena, Gleide de Almeida Ribeiro, enviado em abril em um grupo pelo Whatsapp, colocou em pânico professores indígenas da rede estadual de ensino de Roraima.
“Eu quero a confirmação dos centros regionais! Escolas que não estiverem funcionando, que não começou e nem vai começar [a dar aulas presenciais], nós vamos suspender o pagamento dos professores! Eu preciso urgentemente dessa informação. Já foi autorizada a suspensão do pagamento dos professores da Serra da Lua – exceto aquelas escolas que estão funcionando. Por isso eu preciso urgentemente saber quais são as escolas que estão funcionando na Serra da Lua, ou então todas as escolas da Serra da Lua vão ser suspensos o pagamento”, disse a Chefa da Divisão do governo de Antônio Denaruim (sem partido).
Por Martha Raquel, do Brasil de Fato
Após o envio do áudio, Silvana*, professora seletivada, teve alguns dias descontados de seu salário por se recusar a ir até a casa dos alunos para entregar atividades. Por medo de retaliação, ela preferiu não se identificar, e detalhes como etnia, região e escola de atuação serão mantidos em sigilo.
Diferente do restante do país que cumpre, em algum nível, o estudo à distância, os alunos indígenas de Roraima não conseguem ter uma estrutura de internet e de aparelhos eletrônicos para assistir às aulas. Além dos alunos, alguns professores também não sabem como usar o aparelho para dar aulas. Os professores reclamam que não houve qualquer tipo de instrução para que as aulas fossem dadas à distância.
A reportagem do Brasil de Fato tentou entrar em contato com Gleide de Almeida Ribeiro, Chefa da Divisão de Educação Escolar Indígena, e Leila Perussolo, Secretária de Educação e Desporto do Estado de Roraima, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.
Silvana conta que assim como ela, a maioria dos professores indígenas são seletivados, ou seja, podem ter seu salário cortado a qualquer momento. “Primeiro pediram que fôssemos até a casa dos alunos entregar as atividades e lá teríamos que aguardar que eles as fizessem e nos devolvessem. Quando nos recusamos disseram que teríamos que atendê-los na escola. Hoje atendemos salas inteiras de uma vez”. Ela explica que o governo de Antônio Denaruim não enviou máscaras, álcool em gel, luvas ou qualquer outro equipamento de segurança para as escolas. “Atendemos 6 ou 7 alunos de uma vez sem nenhuma proteção”, explicou.
Desesperada com a situação, outra professora que também não quis se identificar desabafou: “Nós não temos como ficar sem salário, ainda mais durante uma pandemia. O que estão fazendo com a gente é desumano. Como eu vou chegar pros meus filhos e falar ‘ou a mamãe sai pra trabalhar e corre o risco de morrer pra poder trazer comida pra casa ou a gente vai passar fome’? Não tem como eu fazer isso”.
A primeira morte de professora
Professora indígena da etnia Macuxi, Bernita Miguel, de 52 anos, foi a primeira vítima do coronavírus dentro das escolas indígenas de Roraima. Bernita ensinava a língua Macuxi na Escola Estadual Indígena Artur Pinto na comunidade Nova Esperança, na região de São Marcos, no município de Pacaraima.

Professora Macuxi Bernita Miguel, primeira professora vítima de coronavírus em Roraima / (Reprodução / Facebook)
Enock Taurepang, coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima (CIR), explica que o governo estadual não tem se importado com a saúde indígena. “Os professores indígenas estão entre a cruz e a espada. O governo joga essa proposta de 15 ou 20 dias de repasse de atividade pros alunos, mas aulas estão acontecendo e isso nos preocupa mesmo que seja de 15 em 15 dias”, explica. “Ainda tem profissionais indígenas que se reúnem dentro do ambiente escolar para fazer o planejamento e isso é uma preocupação muito grande”, completou.
O coordenador do CIR explica que não é possível prever quem está contaminado ou não. “Já temos 8 perdas de professores para essa doença e não queremos ter mais vidas levadas por essa doença. Esse método proposto para os professores expõe o professor, o aluno, o pai do aluno e consequentemente toda a comunidade. Nós temos a cultura de visitar nossos parentes, ir nas casas dos parentes de manhã ou no finalzinho da tarde pra conversar, pra repassar informação, pra combinar o trabalho do dia seguinte. E tudo isso propicia que o vírus se espalhe em toda a comunidade”.
O coronavírus passa de cada pessoa contaminada para três a cinco pessoas. O que significa que, sem nenhuma medida de contenção, o número de casos tem potencial de dobrar, em média, a cada quatro dias. Em ambientes fechados o contágio é muito maior, sobretudo se se faz uso de ar condicionado, onde a troca de ar é aquém da ideal. O contágio é rápido uma vez que há uma faixa grande de pessoas que são pré-sintomáticas e durante essa fase seguem transmitindo mesmo antes de apresentar os sintomas.
“Nesse modelo de continuar com os atendimentos presenciais, todos ficam expostos. Não importa se é um, dois ou três minutos, não importa o tempo. Essa doença se espalha de uma maneira tão rápida… basta você ter um pequeno contato e aí lá se vai o vírus causar mais mortes. Esse modelo não é apropriado para nós, não é!”, explicou Enock.
Segundo o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), há hoje 821 casos de indígenas confirmados com covid-19 e 47 óbitos em Roraima. No Brasil, o número passa para 14.793 infectados e 501 mortes, sendo 131 povos atingidos. Os estados com maior número de indígenas infectados pelo vírus são Amazonas, Para e Maranhão. Os principais povos atingidos pela doença foram Kokama (60 óbitos), Xavante (33 óbitos) e Guajajara (30 óbitos).
Rotina em sala de aula
Silvana explica que as aulas acontecem por horário determinado, exemplo: alunos do quinto ano das 09h às 10h; do sexto ano das 10h às 11h; e assim por diante. As salas de aula continuam iguais, sem afastamento de carteiras ou distanciamento social. Os estudantes formam uma fila e vão, um a um, tirar as dúvidas. Geralmente o professor fica sentado e o aluno em pé ao lado. Ela conta que nem todos os alunos têm máscara, e que poucas escolas disponibilizam álcool em gel. Ela, que tem apenas licenciatura para dar aulas para alunos do ensino fundamental, há alguns anos assumiu, a pedido do governo estadual de Roraima, matérias como sociologia, biologia e espanhol. Silvana tem, em média, 120 alunos.
Enock explica que, ainda que o governo tenha enviado alguns vidros de álcool, eles não são suficientes. “Não é uma realidade para o professor indígena pensar ‘ah, agora eu posso trabalhar e fazer as minhas atividades com o mínimo de segurança’, não é! Mandar dois ou três vidros de álcool em gel para uma escola que tem 40 ou 50 professores é inviável, é inadmissível”.
Outras formas de lidar com a situação
Para o CIR, há outras formas de manter o emprego dos professores durante a pandemia. “O professor poderia estar produzindo materiais pedagógicos específicos e diferenciados para as escolas indígenas nesse período de um ou dois meses. O professor ficaria liberado para fazer seu próprio material pedagógico e depois que tudo isso passasse, ficaria mais fácil de ele chegar com esse material, apresentar e aplicar para os seus alunos. Ele só iria aplicar o que ele já tinha criado nesse período que ele passou sem dar aula. Então, de uma forma ou outra, o professor não pararia suas atividades como profissional”, explicou Enock.
Para ele, o governo não está escutando as demandas e as sugestões dos professores. “Quando essa ordem vem de cima, o profissional indígena se sente na obrigação de executar aquilo que tá se pedindo mesmo que a sua vida esteja em risco. Se eu paro de executar minha atividade como professor por causa de uma pandemia, o governo aponta o dedo e diz que vai tirar o meu salário e eu tenho muita conta pra pagar. Tenho uma família pra alimentar, e se eu parar, consequentemente, eu vou perder tudo isso; e daí fico na obrigação de executar o que o governo tá pedindo mesmo colocando minha vida em risco”, explicou.
Professores vítimas do Covid-19
Assim como Bernita, outros sete professores faleceram por conta da doença. Elizabeth Ribeiro, da etnia Wapichana, tinha 37 anos e dava aulas na comunidade Canauanim, no município do Cantá. Já Fausto Silva Mandulão, de 58 anos, era professor há 41 anos. Liderança indígena, ele lecionava na Escola Estadual Indígena Professor Ednilson Lima Cavalcante, na comunidade Tabalascada, também em Cantá. Ambos faleceram no mesmo dia, 03 de junho, vítimas da doença.
Poucos dias depois o professor indígena da etnia Macuxi, Luciano Peres, de 68 anos, também faleceu vítima da doença. Formado em pedagogia e matemática, lecionou no Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol. Ele também atuou como gestor pedagógico na escola estadual Tuxaua Silvestre Messias e foi secretário na prefeitura de Pacaraima.
Alvino Andrade da Silva, da etnia Macuxi, também foi vítima da doença uma semana mais tarde. Nascido na Comunidade Indígena Boqueirão/Região do Tabaio, município de Alto Alegre, atuou como assessor técnico da Associação dos Povos Indígenas do Estado de Roraima (APIRR), entre 2005-2011. Dulcirene Freitas de Lima, 47 anos, da etnia Taurepang, da Comunidade Canauanin; Irinel Melquior, da etnia macuxi, da Comunidade Ticoça; e Maika Ferreira Melo, da etnia Macuxi, da Comunidade Sucuba, também morreram vítimas do vírus.
Como o vírus têm chegado às comunidades?
Segundo a APIB, em muitos casos o vírus tem chegado pelo próprio governo federal, como no caso da região do Alto Solimões e no Vale do Javari onde a covid-19 foi levada por pessoas da equipe da SESAI que estavam contaminadas. No Parque Tumucumaque (Pará e Amapá), o vírus chegou com o Exército. Em regiões do Sul e Centro-Oeste, o agronegócio tem sido um dos principais vetores da disseminação da doença entre povos indígenas. O garimpo ilegal e outras ações criminosas que invadem as terras indígenas têm levado a doença para territórios em Roraima e Pará. A exposição ao vírus na tentativa de acessar o auxílio emergencial do governo também tem sido uma das formas de chegada nas aldeias.
Todas as vidas indígenas importam
Segundo o CIR, há mais de mil professores seletivados no estado de Roraima. “Independente da quantidade, se existissem dois professores seletivados, a gente ia lutar pela vidas desses dois. Se existisse um professor concursado indígena, a gente ia lutar pela vida desse professor concursado indígena. Todas as vidas importam! São as pessoas que estão dando a vida e o sangue todos os dias dentro das escolas indígenas pra fazer a educação acontecer, pra fazer com que o aluno jovem ou a criança possa ter o entendimento maior do mundo em que a gente tá vivendo. Então essas pessoas importam e são muito preciosas pra comunidade”. Ele explica que tanto os professores mais jovens, quanto os professores mais velhos têm um grau de conhecimento imenso e que ambos são vidas essenciais nas comunidades.
Tratamentos tradicionais contra o vírus
Para o CIR o número de professores contaminados pode ser muito grande, levando em conta os que estão recebendo tratamento dentro das comunidades. Há contaminados que estão em isolamento e seguindo tratamento com medicamentos farmacêuticos e tradicionais.
Silvana voltou da comunidade em que dá aulas com sintomas de covid-19. Depois de 17 dias conseguiu realizar o exame, que deu negativo, e acredita que o vírus não foi encontrado em seu corpo porque tomou algumas garrafadas – um medicamento tradicional – por muitos dias seguidos.
As garrafadas podem ser produzidas de diversas formas. Silvana se tratou com a Garrafada de Quina Quina (a casca da árvore com água) e com a Garrafada de Limão e Laranja (são batidos no liquidificador dois limões com casca e sem sementes e uma laranja com casca, se adiciona água e bebe-se 3 vezes ao dia).
A nossa bandeira é a vida!
“O CIR tem a obrigação, e a gente faz com gosto, de defender o direito do parente, defender o direito do profissional indígena, defender o direito do pai, da mãe, do filho, do neto, do indígena em geral. Quantas vezes forem necessárias, o CIR vai se manifestar e vai dizer não à morte, não ao genocídio do povo indígena! Não! Basta! A gente quer viver! A gente quer ver o parente feliz! A gente quer ver o parente com saúde! A gente quer ver o parente autônomo, de todas as formas! Essa é a nossa bandeira, a vida, o bem-viver das comunidades”, finalizou Enock.
*Nome fictício
Edição: Mauro Ramos
Veja também: O racismo de Bolsonaro contra populações indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais
Coronavírus
Novo normal: Brasil tem mais de mil mortes por dia e governantes festejam o tal “platô”
Publicadoo
6 anos atrásem
12/07/20
Por Ricardo Melo*
A pandemia do coronavírus está fora de controle em todo o planeta. Sintomático: o país considerado o mais desenvolvido do mundo, os Estados Unidos, meca do capital financeiro, é incapaz de deter as mortes que se acumulam aos milhares. Lidera o ranking da morbidez. Atrás dele, disputando o pódium do genocídio, está o Brasil de Jair Bolsonaro.
Tem se falado muito sobre o primado da ciência, bla, bla bla. É bom que se aposte na certeza científica contra as feitiçarias, charlatanices e vendedores de remédios contra piolhos como salvação da humanidade. Ou contra mercadores de cloroquina que só fazem encher os bolsos(naros) de um dinheiro extra.
Os fatos, porém, ultrapassam este debate. Vamos falar do Brasil. Um governador como João Dória comemora que São Paulo aparentemente atingiu um tal “platô”. “Temos y infectados, x mortes e a situação parece estar se estabilizando.”
Ei, que negócio é este? Como assim? Tem gente morrendo. E não é madame que acha que morador de rua é folgado e gosta de viver ao relento. São na maioria trabalhadoras e trabalhadores abandonados à própria sorte e sem condições de se defender. Os números são inequívocos. Há um corte social evidente entre as vítimas. Aqui no Brasil, nos EUA e pelo mundo afora.
Há dinheiro de sobra rodando pelo mundo para debelar uma pandemia como esta. Ninguém de bom senso acredita que a colaboração entre cientistas de ponta de todo o mundo não poderia achar uma saída rápida para aplacar um vírus. Mas o que se vê é uma guerra entre laboratórios multinacionais gananciosos para ver quem vai chegar primeiro à pedra filosofal.
Enquanto isso, além das vítimas do vírus, assiste-se ao sacrifício desumano de milhares de profissionais de saúde que tentam fazer o que o capitalismo predador não faz. Salvar vidas. Eles trabalham sem proteção, em sistemas públicos de saúde desmantelados e entregues ao olho gordo do dinheiro grosso. As histórias de enfermeiros e médicos que morreram vítimas do vírus ou se mataram por não conseguir impedir a morte de pacientes recheiam as páginas dos principais jornais do mundo.
Novo normal no Jornal Nacional
Por aqui, a tragédia também virou o novo normal. O Jornal Nacional, da Rede Globo, já trata o assunto como uma seção. Colocou um apresentador que parece ter saído de uma impressora 3D para falar sobre os números do dia. Como se estivesse falando das cotações da bolsa ou do dólar. Ou da previsão do tempo. “Amanhã vão morrer tantos, sobreviver outros. Agora é com você, Bonner”. A rede Globo sempre será a Globo, a mesma que “descobriu” que havia uma ditadura no Brasil com quase meio século de atraso.
E seguem os enterros. Literalmente.
Vamos falar claro: as medidas de relaxamento do isolamento social são criminosas. Isto mesmo, senhor Dória e outros governadores e prefeitos. Vejam o caso da Índia e de outros países. Enquanto não houver uma vacina ou uma solução intermediária, a exposição de cidadãos a céu aberto equivale a uma sentença de morte distribuída por amostragem.
Sobre Bolsonaro é inútil falar. Faz tempo, cerca de trinta anos, que ele tá pouco se lixando para o Brasil. Tá mais preocupado com Queiróz e dona Márcia (a propósito: para quem não sabe, a avó da mulher dele, Michelle Bolsonaro, foi recolhida no meio da rua com o coronavírus. Neste momento, luta contra a morte num hospital ).
Enfim, é um escândalo. Os culpados estão identificados. São as autoridades, aliadas do capital gordo, que menosprezam a vida dos que não têm como se proteger e pregam o libera geral. Dane-se o povo. Aquelas excelências estão resguardadas por grandes hospitais, planos de saúde e benesses de todo tipo. Trump, Bolsonaro e Dória estão sãos e salvos.
Para a maioria, sobra o “platô” das covas.
*Ricardo Melo, jornalista, foi editor-executivo do Diário de S. Paulo, chefe de redação do Jornal da Tarde (quando ganhou o Prêmio Esso de criação gráfica) e editor da revista Brasil Investe do jornal Valor Econômico, além de repórter especial da Revista Exame e colunista do jornal Folha de S. Paulo. Na televisão, trabalhou como chefe de redação do SBT e como diretor-executivo do Jornal da Band (Rede Bandeirantes) e editor-chefe do Jornal da Globo (Rede Globo). Presidiu a EBC por indicação da presidenta Dilma Rousseff.
Leia mais Ricardo Melo em:
https://jornalistaslivres.org/quem-confia-em-milton-ribeiro-o-ministro-da-educacao-escolhido-por-bolsonaro/
ENEM: BOLSONARO QUER DESTRUIR OS SONHOS DA JUVENTUDE POBRE DO BRASIL
#EleNão
Ato na Paulista, neste sábado (13/06), faz protesto “contra governo da morte”
Publicadoo
6 anos atrásem
12/06/20por
Gustavo Aranda
Neste sábado (13/6), a avenida Paulista será o espaço de mais uma manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O ato está sendo organizado por grupos sem vínculos partidários ou institucionais, que protestam contra o genocídio produzido pela irresponsabilidade do governo federal diante da pandemia do Covid-19 e contra a violência policial e estatal que vitima os brasileiros mais pobres e vulneráveis.
Bolsonaro, que já vinha pressionando prefeitos, governadores e empresários para um “retorno à normalidade”, antes mesmo do Brasil atingir o pico da pandemia e a contaminação estar controlada, estimulou, em live transmitida na úlltima quinta-feira (11/06), que a população invada os hospitais, filme os leitos e envie as imagens para a Polícia Federal e para a Abin, colocando em cheque os números apresentados pelas secretarias de saúde de estados e municípios. De acordo com nota divulgada pelo grupo que organiza o Ato, não resta outra alternativa que não seja ocupar as ruas e confrontar o governo com os resultados de sua própria política, “o Brasil não pode mais aguentar duas crises ao mesmo tempo: a pandemia e Bolsonaro. Uma se alimenta da outra. A única maneira de lutar contra a pandemia é derrubando este governo irresponsável. Não sairemos das ruas até que ele caia”.
Jair Bolsonaro também ameaçou, nesta quinta-feira (11), vetar a prorrogação do auxílio emergencial, caso o Congresso mantenha o valor de R$ 600. A proposta apresentada pelo governo é reduzir o valor pela metade, para mais dois meses de auxílio.
“A função primeira de um governo é proteger a população. Bolsonaro e seus seguidores zombam dos mortos e conspiram contra políticas que poderiam salvar vidas”.
Outra medida tomada por Bolsonaro esta semana, que vai de encontro às reclamações do Ato Contra o Governo da Morte, foi a exclusão da violência policial do relatório sobre violações de direitos humanos, uma tentativa clara de maquiar os números, assim como é a política oficial com o Coronavírus.
Serão distribuídas para os manifestantes, 500 fotos com vítimas da violência do Estado na ditadura e nos dias atuais, pela polícia e Covid-19. O uso de máscaras e a observação da distância de dois metros uns dos outros será obrigatório. Uma equipe irá garantir a distância e a segurança dos participantes.
O Grupo que organiza a ação é apartidário e espontâneo, composto por ativistas, artistas, advogados, professores, profissionais de saúde, estudantes, comunicadores. Cidadãs e cidadãos que não verão calados mais um genocídio do Estado brasileiro contra o seu povo.
Leia a íntegra do manifesto:
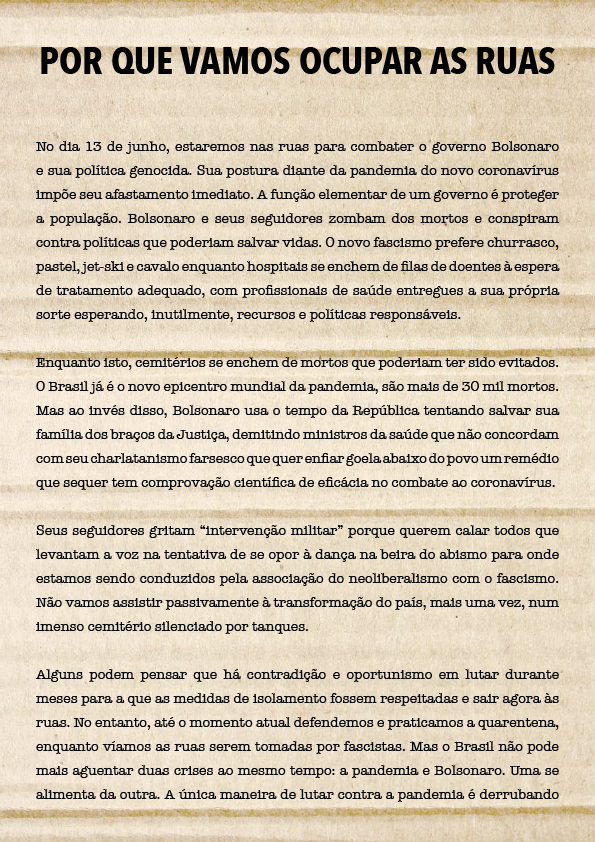
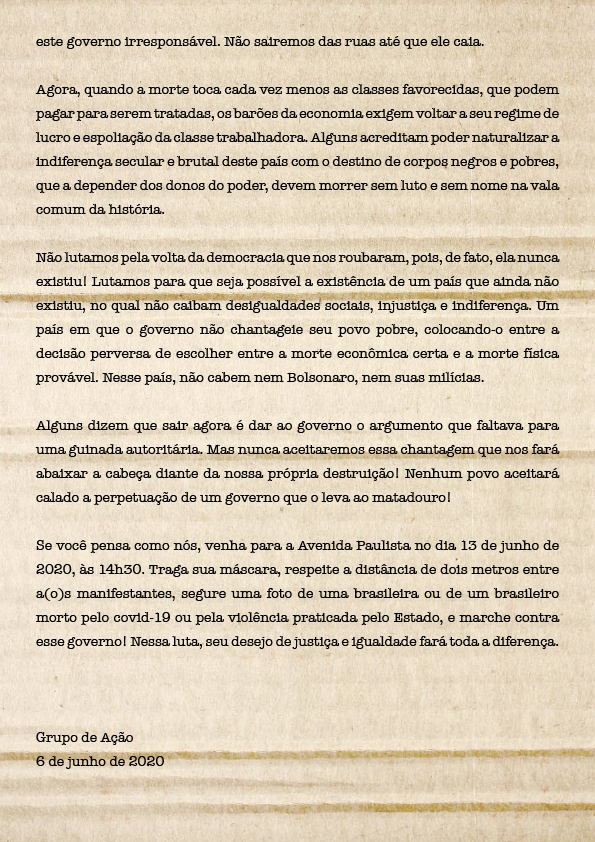
Trending
-

 7 anos atrás
7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad
-

 Política7 anos atrás
Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?
-

 7 anos atrás
7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão
-

 Lava Jato7 anos atrás
Lava Jato7 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”
-

 Educação7 anos atrás
Educação7 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano
-

 #EleNão7 anos atrás
#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”
-

 Política7 anos atrás
Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele
-

 Eleições Municipais 20168 anos atrás
Eleições Municipais 20168 anos atrásA Impressionante Ficha Corrida de João Doria (em 22 itens)





