por Maurício Carvalho
Eu não tenho nenhum afeto pelo colégio onde estudei toda a infância e adolescência. Quando vejo uma matéria dessas me vem à cabeça lembranças muito nítidas do que foi pra mim ser um aluno dali; como da vez em que a dona da escola foi de sala em sala do terceiro ano, com os funcionários da sala do mimeógrafo – aos prantos, para uma sessão de humilhação pública porque um aluno havia roubado os originais de uma prova e distribuído em sala. Eram 06 salas a visitar. Lembro claramente dela dizer que seriam demitidos; ou da vez em que 02 colegas de classe discutiram aos gritos pra ver quem tinha mais dinheiro na carteira, ostentando notas e sobrenomes.
Ah, os sobrenomes, estavam todos lá. Foi no Santa Maria que aprendi o valor de um sobrenome e o significado de ser “de família”, assim como o valor dado a coisas que (logo aprendi) não tinham valor – como por exemplo a colega de classe que era zoada em sala por causa do “cabelo de empregada”. A tal colega, única negra da sala, era filha de funcionário público, naturalmente retraída, forçadamente excluída. Não a via em nenhuma das festinhas as quais eu também não era convidado.
Ser filho de funcionário público, na escala de valores que aprendi ali, era pouco.
Dos colegas de sala havia o filho do dono do hospital, o filho do advogado tal, o filho do deputado, a fllha do governador, a do médico de renome, a filha do dono da loja do shopping, o filho do dono do banco (esse vinha num carro com seguranças), e aí vinham os outros filhos, no meu caso, o filho do bancário, que logo aprendi não era lá grande coisa.
Talvez por isso eu enchia meu pai perguntando o que ele fazia exatamente no Banco do Brasil, já que ser bancário significava ser funcionário de alguém.
Pelo menos eu era mais poupado do que o filho de um professor lá mesmo do colégio
— Vc só tá aqui porque seu pai ensina aqui.
.
Negros quase não se via, muito raramente – exceção às moças e rapazes – todos da igreja, que ficavam dentro dos banheiros a fiscalizar o que os alunos faziam ali dentro. Ah, as moças, maioria do corpo de funcionários e que circulavam por todo o colégio, vestiam um uniforme azul com avental branco e touca branca, e eram chamadas de babás – ainda que estivessem trabalhando para os adolescentes, e estes, claro, tratavam-nas como alguém da família, como a empregada de casa, embutido aí toda uma relação assimétrica (e alguma ironia).
Por se tratar de um colégio católico, não faltava gente da Igreja, como o padre, que, toda vez que me via, segurava minha mão e ficava a roçar em mim, tudo no santo silêncio e na mais santa das aparências. Eu lembro até hoje dele olhando fixamente pra mim enquanto me apertava. Eu aprendi rapidinho a evita-lo, só não conseguia evitar cantar o hino nacional e todos os cânticos após o recreio – religiosamente.
Quem não pôde evitar a fúria cristã eram os professores de história, como um que tinha uma barba longa e foi tachado de comunista pelos alunos logo no semestre em que entrou; não durou mais que um ano. Um de matemática, ao tempo em que se cochichou que ele era gay, logo, logo, foi substituído.
Mas quem gostava de aparecer mesmo eram os políticos candidatos. Época de eleição, lembro bem, recebíamos visitas de Roberto Magalhães, Ricardo Fiúza (quem lembra?), Marco Maciel, Joaquim Francisco e outros que tão bem representavam o conceito de família. Ainda que a maioria dos estudantes não votasse, os candidatos estavam todos lá, na hora do recreio, em meio a euforia dos alunos. Euforia que contagiava também as coordenadoras e diretoras da escola – todas de amarelo, camiseta vermelha era terminantemente proibida -, recado dado com clareza, em plena eleição de 1989, inclusive aos alunos.
Dentro da escola era tudo vigiado. Não se podia jamais entrar num corredor ou mesmo subir num andar que não fosse o da sua sala. Para tudo havia explicação, era aí que eu me divertia, tentando enganar os funcionários, fumando escondido no laboratório de química ou vendo um coleguinha mostrando o pau no laboratório de biologia. Era o momento de libertação máxima.

Estudantes do Colégio Santa Maria, no Recife, fazem saudação nazista em sala de aula
Libertação que não se dava nem mesmo após a saída da escola. O velhinho bonachão de olhos verdes que ficava circulando pelo quarteirão era um ex-delegado da época do regime militar, famoso no Recife por torturar presos nos anos 60 e 70 – matérias devidamente registradas na imprensa local, que esmiuçou o passado obscuro do inspetor de segurança da escola, ávido em achar “maconheiros”, e que se orgulhava de arrebentar gente em porões; foi quando entendi esse tal de amor à pátria.
E falando em pátria, num país que recorre ao sentimento nacionalista justamente quando quer ratificar que somos uma nação que segrega, que oprime e que violenta, juntar isso com família e religião é o caldo que engrossa os tempos em que vivemos, onde alunos da ‘escola mais tradicional da cidade’, filhos de sobrenomes, estão em sala de aula fazendo saudações nazistas.
Pensando bem, não há nada de novo nisso, é daí que a palavra tradição faz todo sentido. Nunca foi diferente.


 7 anos atrás
7 anos atrás
 Política7 anos atrás
Política7 anos atrás
 7 anos atrás
7 anos atrás
 Lava Jato6 anos atrás
Lava Jato6 anos atrás
 Educação7 anos atrás
Educação7 anos atrás
 #EleNão7 anos atrás
#EleNão7 anos atrás
 Política7 anos atrás
Política7 anos atrás
 Eleições Municipais 20168 anos atrás
Eleições Municipais 20168 anos atrás

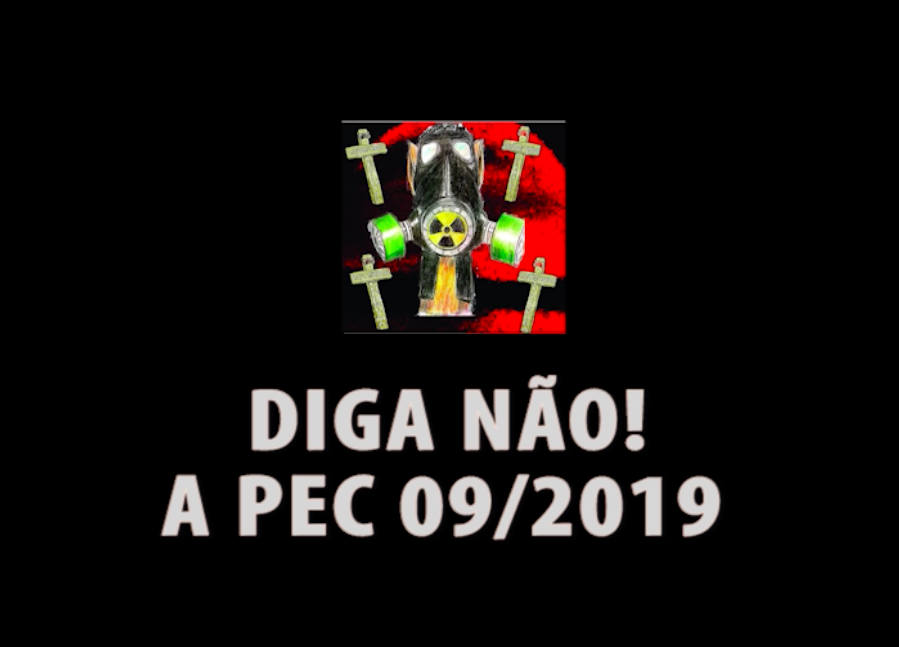














Virginia maria Neves Baptista
07/03/20 at 15:18
Que texto. Fantástico, Maurício Castro. Obrigada pela excelente leitura. Me fez lembrar de um fato que me ocorreu aos 14 anos ( hoje tenho 61) quando tive um “paquera” e meu pai descobriu. Ele logo quis saber de que família era. Eu disse que não sabia e na minha ingenuidade disse: “mas ele parece ter posses.” Meu pai logo me deu um lição dizendo que isso era o que de menos importava.Nas suas palavras” dinheiro agente faz com estudo e trabalho, ele tem que ser um homem bom pra vc, honesto e íntegro”. Nunca mais esqueci essa lição.Também estudei em colégio tradicional e católico. Existia preconceito, sim. E tantas coisas que eu discordava. Porém, e felizmente, nunca presenciei nada semelhante ao que vc relata.Também pertenço a família tradicional de Pernambuco, filha de advogado e professor da Faculdade de Direito do Recife. Jamais nos foi permitido ostentar absolutamente nada, muito menos tratar com desdém um funcionário Nossas amizades eram pautadas na integridade e não na classe a que pertenciam. Fico feliz por ter compreendido desde cedo que há valores e Valores, mesmo que pertencente a essa fatia de filhos das classes privilegiadas.
Júnior
08/03/20 at 11:38
A ‘escola mais tradicional da cidade’ é apenas um reflexo da nossa elite, ou quem se acha como tal, um bando de donos de engenhos falidos que ainda se comportam como senhores feudais. Já tive discussões bem desagradáveis quando dizia que não gostava de Pernambuco, apesar de ter aqui nascido, pois na pobreza do seu bairrismo, acham que tenho obrigações de me apegar e ser leal a terra; onde esta casta vomita superioridade e arrogância, postando-se acima da patuleia, da plebe, com seus sobrenomes decadentes, num lugar onde tudo sempre continua do mesmo jeito de sempre , onde quem manda é determinado pelo DNA, não pela competência e trabalho.