Índios
Programa de índio
Publicadoo
11 anos atrásem

Meus dias de índio no Alto Xingu se furtaram à data prevista, adiando-se aos atrasos da chegada de valiosas doses de vacina que serão, em sua rotina e ciclos anuais, levadas à terra indígena do Parque por enfermeiras que acompanho em expedição de imunização. Nesses dias de refluxo sigo vagando na pequena cidade de ruas imensas, como se várias avenidas Paulista e desertas se sucedessem no espaço urbano da jovem cidade de Canarana, no Estado de Mato Grosso. O município é um desses que se fundaram no nada, durante o regime militar, em região de pura mata que vai rendendo o cerrado na transição para a poderosa e cobiçada floresta amazônica.

Um inesperado convite me veio na noite de sábado de um amigo jovem e forte índio Kamaiurá, vendo em mim um certo desconsolo com a monotonia da cidade. Sugeriu-me para ir assistir a um jogo de futebol no domingo com seus amigos. Eu, que nunca fui de bolas, não me excitei tanto com a proposta, mas considerei a possibilidade. Leonardo, técnico em enfermagem, passou a me contar as qualidades do jogo que ocorreria, e logo me despertou grande interesse pelo evento.

A partida seria entre o Xingu Clube Futebol, formado por índios Kamaiurá, Kuikuro, Yawalapiti, Kaiabi e Matipu, contra o adversário Culuene, time composto por moradores da mesma localidade, um distrito de Canarana a 50 quilômetros de distância. No domingo às 13 horas foi marcado o encontro com o time, numa praça local, para embarcar no micro-ônibus escolar que nos levaria ao campo do distrito de Culuene para partida válida pelo Campeonato Municipal Amador da 1ª Divisão, devidamente registrado na Federação de Futebol.

São 13 horas e o sol está a pino a esquentar tudo que não tem sombras, por isso ficamos sob as árvores da praça e o antigo avião suspenso no ar em colunas de concreto, objeto público que orgulha os sulistas e desnovela a senda dos povos tradicionais. O atraso do ônibus motiva os jogadores indígenas, “isso é bom, pois faz a gente chegar com raiva”, diz um deles provocando risos. Quando partimos o pequeno ônibus se enche de motivação e a alegria se intensifica em piadas de línguas indígenas que nada entendo, mas o humor é algo que não necessita tradução. O veículo segue apressado no asfalto que finda, longo caminho de terra batida por duas horas nos levarão para Culuene.

Chegamos. O time xinguano, sério agora, vai em bloco procurar o parco vestiário. Eu a rodear o campo logo conheço Toni, pequeno garoto de 10 anos, descalço e sem camisa, que livre me diz: “sou o gandula e vou ganhar dez reais”. Sem que eu tivesse tempo de prosseguir o diálogo ele se arvora num pé de manga próximo. Vou ao vestiário onde o time do Xingu se aperta já na troca de roupas e em um idioma comum falam algo que lembra música, algo que une o time na vontade de vencer.

A partir daqui começa a se evidenciar grandes diferenças no comportamento e rotinas dos times. Enquanto os índios vão ocupando o campo em exercícios físicos, o time local segue em roda orando seu pai nosso. A população local vai se aglomerando em volta do campo trazendo suas cadeiras domésticas.

Uma gente morena de sol, donas de casas e do campo e seus filhos, homens com seus chapéus e muito trabalhador de roça e suas latinhas de cerveja e as moças bonitas. Ao apito do juiz é a garra que se mostra nessa gente toda. Sem grandes problemas ou expulsões o jogo é ágil e intenso, jogo bom de ver onde a bola não pára e os homens tremem o chão.

Me chama a atenção a torcida que não raro deixa evidenciar sua parcela de preconceito ao índio, com ironias nada amigáveis quando o time local recebe ou faz gols. Quatro a quatro será o placar de meu programa de índio, um empate que simboliza mesmo o encontro desses povos que aqui dividem a terra,costumes e pretensões.

Na satisfação final do empate todos se cumprimentam e a torcida recolhe suas cadeiras e partimos para casa. Já noite caindo no ônibus sigo pensando no pequeno gandula Toni, feliz por seus dez reais e um país todo pela frente, ainda.
Você pode gostar
-


Morte de líder Kumaruara revela a falta de assistência a indígenas no baixo Tapajós (PA)
-


Em Santarém (PA), indígena picado por cobra morre por falta de atendimento
-


Baixo Tapajós: campanha distribui mais de 20 toneladas de kits de higiene e proteção
-


Brasileirão da Morte começou nesse fim de semana
-


“Malditas sejam todas as cercas!” Perdemos um pescador de almas e semeador de vidas
-
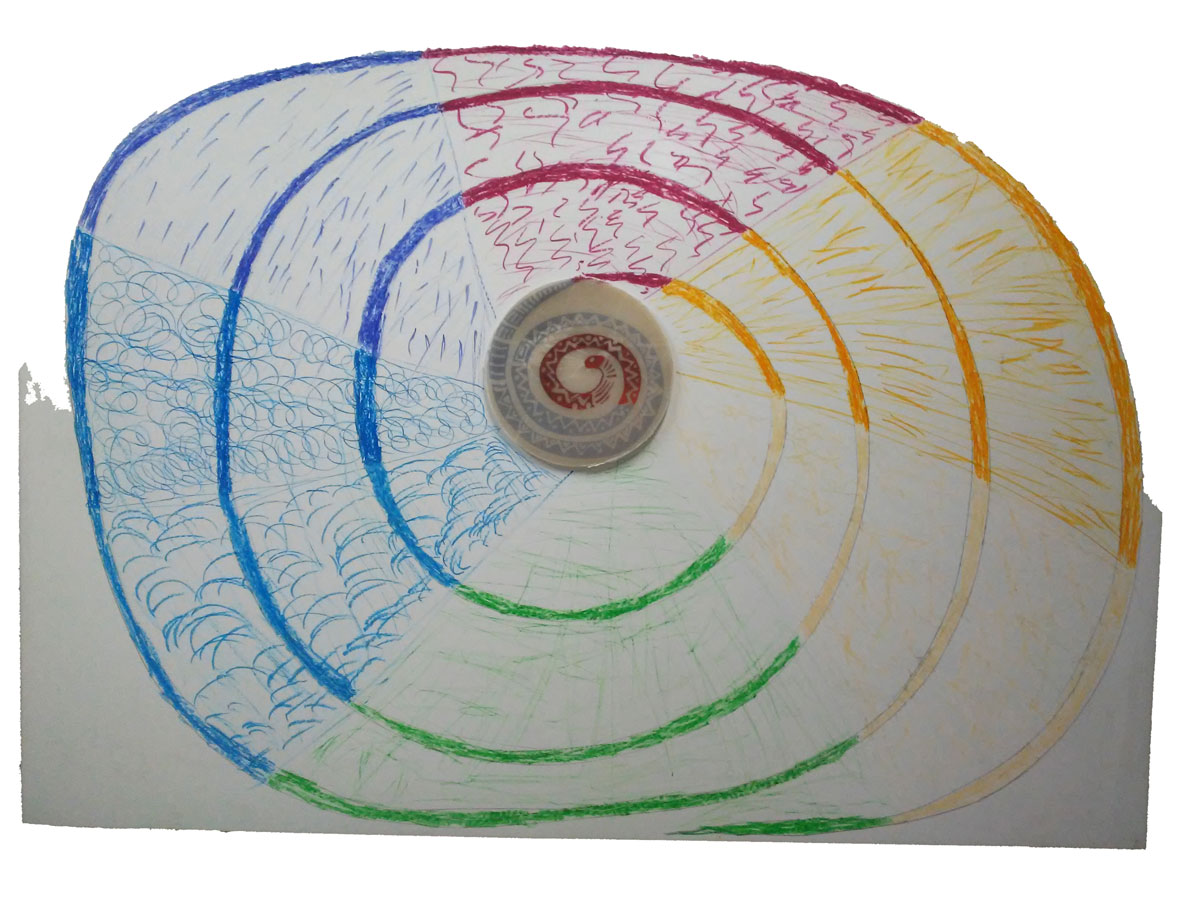
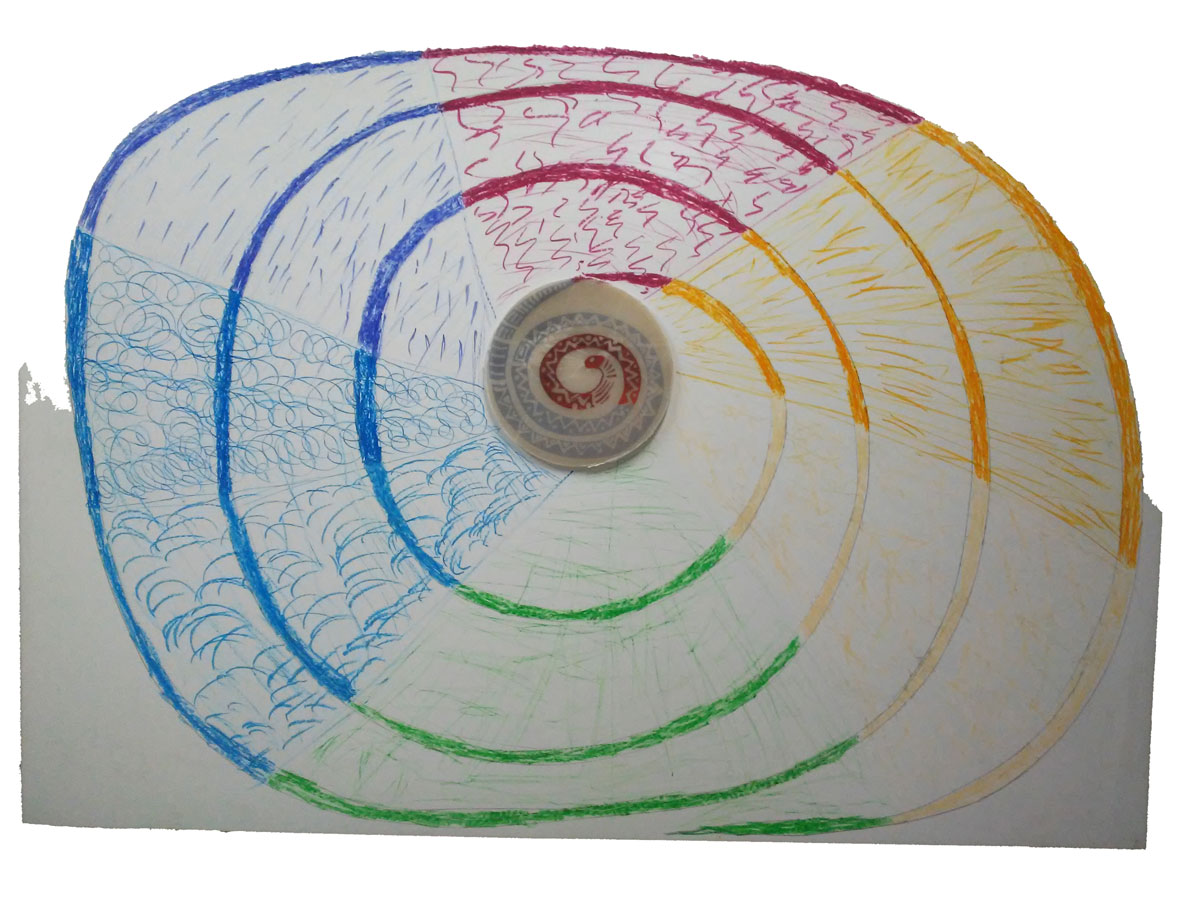
Ailton Krenak – A vida não é útil
Amazônia
Morte de líder Kumaruara revela a falta de assistência a indígenas no baixo Tapajós (PA)
Publicadoo
5 anos atrásem
16/10/20
Picado por cobra, Alberto Castro Bispo só foi socorrido 6 horas após o comunicado à Secretaria Especial de Assistência Indígena de Santarém-PA
Reportagem originalmente publicada por Amazônia Real
Por: Tainá Aragão
Fotos: Leonardo Milano

Santarém (PA) – “Perdemos mais um Kumaruara por negligência do desgoverno”. A frase em tom de desabafo faz parte da carta-manifesto publicada em 4 de outubro, dia em que morreu o líder Alberto Castro Bispo, 47 anos. O indígena foi picado por uma serpente surucucu e foi a óbito durante a travessia fluvial pelo rio Tapajós por falta do soro antiofídico e assistência médica. A morte causou revolta ao povo Kumaruara, que há anos reivindica acesso à saúde na região da Reserva Extrativista Tapajós- Arapiuns, no Pará, inclusive na pandemia do novo coronavírus.
Por estar no meio da floresta e pelo alto grau de envenenamento, Alberto só conseguiu chegar na aldeia Mapirizinho, na Resex Tapajós-Arapiuns, às 11 horas do mesmo dia, sendo duas horas após ter sido picado. Naquele momento, a comunidade se mobilizou para tentar a sua remoção por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), ambas com sede em Santarém. Mas a lancha da Sesai levou cerca de 6 horas para chegar e Alberto não resistiu ao translado, vindo a óbito nos braços de sua companheira. Eles estavam a caminho de Alter do Chão, no Baixo Tapajós, onde uma ambulância terrestre ainda o levaria para Santarém.
“Ele me olhava e dizia: ‘Minha velha, eu não vou resistir, não’. Se fossem buscar, eu tenho certeza que ele ia escapar. A ambulancha chegou e quando deu umas 18h15 ele deu o ataque no meio do caminho. Aí botei a mão no nariz dele e estava seco, eu estava ali do lado dele, sozinha, e falei para o motorista: ‘Ele já se foi’”, lembra Renita Melo, viúva de Alberto e mãe de seus seis filhos. “Tenha fé em Deus”, ouviu em resposta. Ela chegou a pedir soro aos socorristas, mas só ouviu: “Não temos. [Então] viemos na ‘tora’”, referindo-se a uma expressão local que quer dizer “sem resitar”.
Após o falecimento, parentes e parte da comunidade, em luto, fizeram uma manifestação no dia 5 em frente a Casa de Saúde Indígena (Casai) do município de Santarém. A líder indígena Luana Kumaruara explica que se houvesse mais infraestrutura, mortes poderiam ter sido evitadas. “Estamos em um período de pandemia, além de sofrermos com os impactos dos grileiros, ‘sojeiros’ e madeireiros, também temos que lidar com esse descaso com a saúde, porque dentro da Amazônia não termos esse soro pra picada de cobra. É absurdo, e isso tem que ser prioridade. Já perdemos dois Kumaruara no último mês [setembro] e não dá pra fazer vistas grossas por tudo que estamos passamos”, enfatiza.
As mortes que Luana se refere são a dois idosos. Eles morreram em consequências de problemas cardíacos. Segundo ela, a comunidade Kumaruara também enfrentou problemas na liberação e remoção dos corpos.
A pandemia de Covid-19, que também não dá tréguas, já registrou 1.414 casos confirmados entre os indígenas e 17 mortes de Covid-19 na Resex Tapajós-Arapiuns. Os dados são do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Guamá Tocantins, ligado a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde. Não há registro de mortes pelo vírus entre os Kumaruara.
Na Resex Tapajós-Arapiuns, além dos Kumuruara, vivem também as etnias Tupinambá, Munduruku, Apiaká, Borari, Maytapu, Cara Preta, Arapium, Jaraqui, Tapajó, Tupaiu e Arara Vermelha e comunidades ribeirinhas tradicionais. A Resex fica na região conhecida como Baixo Tapajós, no ponto de encontro entre os rios Tapajós, Arapiuns e Amazonas. Os Tupinambá são os mais atingidos pela pandemia da Covid-19.
Uma lancha para atender a todos

(Foto: Leonardo Milano/Amazônia Real)
O corpo de Alberto Castro Bispo foi levado à comunidade para o enterro ainda no dia 5, após 12 horas. Houve uma burocracia para liberação do corpo por parte do Instituto Médico Legal (IML), pois Alberto faleceu em trânsito e não havia um médico na ambulancha para atestar o óbito. Um médico de Santarém teve que fazer a perícia. O velório aconteceu na comunidade Mapirizinho, por volta das 15h, e o enterro entre 17h e 18h.
A Sesai justificou à comunidade que não teria disponibilidade de horário de voo para fazer remoção de helicóptero e tampouco contava com o serviço de um marinheiro para conduzir a ambulancha. O transporte fluvial foi adquirido em julho pela Sesai, mas está parado. “Estamos há meses esperando que a Sesai faça a contratação dos barqueiros. O Samu respondia que a ambulancha da Secretaria Municipal de Saúde estava fazendo outro serviço de remoção na região do Lago Grande, e que só iriam ser possível buscá-lo às 17 horas. Ou seja, apenas uma ambulancha disponível para fazer socorro em uma extensa região de rios”, diz a carta-manifesto dos Kumaruara.
Em nota à Amazônia Real, a Sesai, órgão subordinado ao Ministério da Saúde, por meio do Dsei Guamá Tocantins, diz “lamentar” o falecimento do indígena e se justifica: “Há seis Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (Emsi) na região, atuando de forma volante, levando atendimento de saúde para as aldeias”. Mas admite que faltam profissionais contratados. “O Dsei adquiriu oito novas embarcações fluviais para atendimento da região e os barcos já estão operando no transporte de urgência e emergência de pacientes e equipes de saúde. Os processos de contratação de barqueiros e horas-vôo encontram-se em tramitação, em data anterior ao acidente”, diz a nota.
Segundo Jean Cunha, coordenador do Samu em Santarém, há duas ambulanchas do município, que atuam na região ribeirinha da bacia de três grandes rios: Amazonas, Tapajós e Arapiuns. Apesar da equipe reduzida e da falta de infraestrutura adequada, o Samu alega que se tenta dar suporte às comunidades indígenas. “A Sesai está há um tempo muito grande esperando pra fazer contratação da equipe e isso sobrecarrega o Samu, pois a gente dá suporte para todas as comunidades vizinhas e também às indígenas. Eles não podem colocar as demandas só para o Samu; eles têm hora de helicóptero e uma ambulancha equipada, se a gente tivesse esse material faríamos muitas remoções. Ter o material e não saber usar, fica difícil”, enfatiza o coordenador.
Na Resex, são 75 comunidades, entre indígenas e não-indígenas, e apenas 10 Unidades de Saúde. As mais próximas da comunidade indígena Mapirizinho são Suruacá e Parauá, a cerca de 15 quilômetros de distância. Mas nenhuma das unidades possui o soro antiofídico, específico para conter o veneno da serpente, como explica o agente de saúde do posto de Suruacá, Djalma Lima.
“Não existe soro nem para picada de cobra, nem de aranha, nem de lacraia, porque não tem energia elétrica no posto, e não tem como armazenar. Além disso, para se ter esse soro dentro das comunidades, precisa de um médico, de uma infraestrutura adequada, com geladeira e não temos”. Djalma enviou, por intermédio de seu filho, um punhado de medicina natural para tentar amenizar a dor de Alberto. “Mandei pra ele uxi [fruto nativo] para conter o veneno, mas já era tarde”, diz o agente de saúde.
Para Roselino Kumaruara, cacique da comunidade Mapirizinho e genro do falecido, o descaso com a população tradicional, indígenas e pescadores, que vivem no outro lado do rio é constante. “Essa situação é ruim. Perdemos um parente e não podemos mais trazer ele de volta, já houve outros casos como esse. Quando a gente liga, não tem. A gente fica triste, mas fica com raiva também. A gente tem muitas barreiras pela frente”, protesta o cacique.
Luta pelo acesso à saúde

(Foto: Leonardo Milano/Amazônia Real)
O caso de Alberto Castro Bispo não é isolado. Desde 2015 os povos indígenas do Baixo-Tapajós, por meio do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (Cita), reivindicam acesso à saúde indígena. Em 2016, houve a ocupação do Polo Base da Sesai, em Santarém. Após a ocupação, as comunidades indígenas obtiveram acesso ao direito da saúde por meio de uma decisão judicial a partir de uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF).
Mesmo com o reconhecimento, a principal luta dos indígenas nos municípios de Aveiro, Santarém e Belterra continua sendo a mesma de cinco anos atrás: a criação de um novo Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) para a região. Atualmente, Santarém está incluído no Dsei Guamá-Tocantins, com sede em Belém, a 1.375,8 quilômetros do município. Ou seja, cerca de 22 horas por transporte terrestre, o que dificulta ainda mais o acesso aos atendimentos.
“Não dá pra gente ficar vinculado ao Dsei-Guamá-Tocantins que está em Belém, o que dificulta o diálogo. Por isso, estamos entrando com um documento no MPF para pressionar mais uma vez a criação do Distrito”, explica a líder Luana Kumaruara.
O Dsei Guamá Tocantins atende a uma população de 17.198 indígenas de 42 etnias, que vivem em 186 aldeias. O órgão conta com 31 Unidades Básicas de Saúde e oito polos bases, além de cinco Casas de Saúde Indígena (Casais).
Cortes na Saúde Indígena

(Foto: Leonardo Milano/Amazônia Real)
A saúde indígena funciona por meio de um Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (SasiSUS), coordenado pela Sesai. Articulado com o SUS, descentralizado, e com autonomia administrativa, orçamentária e financeira, o SasiSUS é organizado em 34 Dseis, distribuídos em todo o território nacional. Os distritos são responsáveis por prestar atenção primária em saúde aos povos que moram nas Terras Indígenas. Na Amazônia Legal, são 25 Dseis que dão assistência para uma população de 433.363 pessoas.
Conforme o relatório “O Brasil com baixa imunidade – Balanço do Orçamento Geral da União 2019”, publicado pelo Inesc, Instituto especializado em orçamento público e Direitos Humanos no Brasil, a política de saúde indígena foi um capítulo significativo na ofensiva aos direitos destes povos.
“Em 2019, a execução do orçamento foi de R$ 1,48 bilhões contra R$ 1,76 bilhões em 2018, cerca de R$ 280 milhões a menos. Isto certamente compromete o atendimento deste grupo da população, que tem diversos indicadores de saúde piores que a média brasileira, como suicídio, desnutrição e mortalidade infantil e algumas doenças infecciosas, como a tuberculose”, informa o relatório.
O relatório do Inesc aponta, ainda, que os cortes orçamentários demonstram que há uma violação de direitos direta sobre essas populações: “As medidas legislativas e executivas de iniciativa do governo demonstram que está em curso uma política de destruição intencional e sistemática dos modos de vida e da cultura dos povos indígenas.”
Neste ano atípico, em meio à pandemia, as vulnerabilidades e os abismos sociais se mostram ainda mais profundos. Com o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, por meio da PEC 241 – também chamada de PEC 55, no Senado – e implementada por Michel Temer (2016-2019), a tendência é que as comunidades mais vulneráveis, incluindo os povos tradicionais, populações amazônidas, ribeirinhas, agroextrativistas, indígenas, quilombolas e agricultores, continuem sendo impactadas pelos déficits na saúde e na educação.
“Não suportamos mais viver, vendo os parentes morrerem em nossos braços. Queremos ser olhados e assistidos de forma digna como seres humanos. Vidas Indígenas Importam!”, afirma a última linha da carta-manifesto do povo Kumaruara.
A Amazônia Real entrou em contato com a Secretária de Saúde do Pará para buscar informações sobre óbitos por animais peçonhentos na região, mas até o dia 13 não obteve resposta.

(Foto: Leonardo Milano/Amazônia Real)
Índios
Povos indígenas do Xingu estão em situação crítica
Movimentos sociais do campo popular de Mato Grosso lançam campanha conclamando sociedade para apoio a 10 aldeias da região do baixo Xingu
Publicadoo
5 anos atrásem
07/10/20
Por: Gislayne Figueiredo e Rosa Lúcia Rocha – Consulta Popular – MT
Desde a chegada dos primeiros homens brancos no Brasil, o povo indígena vem sofrendo com a violência, o genocídio, os ataques à suas formas de vida e de cultura, tudo isso para se apropriar de suas terras e disponibilizá-las para aqueles que a utilizam segundo a lógica do lucro.
A mesma lógica utilizada – de apropriação da terra mediante o genocídio e etnocídio de povos inteiros – continua sendo utilizada como forma de expansão das fronteiras agrícolas e sob o discurso do desenvolvimento nacional: citamos algumas dessas violências cometidas em período não tão distante, entre as décadas de 1940 a 1960, que foram ricamente documentadas em 1967 pelo próprio Estado brasileiro por meio do chamado “Relatório Figueiredo”, um documento de mais de 7 mil páginas que está disponível na página do Ministério Público Federal e que merece ser conhecido por todos os brasileiros. No documento produzido pelo então procurador Jader de Figueiredo estão descritas inúmeras atrocidades praticadas por latifundiários brasileiros e funcionários do Serviço de Proteção ao Índio contra índios brasileiros naquele período, como assassinatos individuais e coletivos, torturas, prostituição de índias, trabalho escravo, usurpação do trabalho, apropriação e desvio de recursos oriundos do patrimônio indígena, venda de artesanato indígena, venda de produtos de atividades extrativas e de colheita, arrendamento de terras, venda de gado, venda de madeiras, exploração de minérios, doação criminosa de terras, omissões dolosas, dentre outras.
Essas violências continuam até hoje e centenas de povos indígenas que procuram viver em harmonia com a mãe-terra, respeitando-a e preservando-a, têm seus territórios constantemente invadidos por garimpeiros, madeireiros, fazendeiros e pelo agronegócio que, de forma predatória, queimam e arrasam as florestas, as águas e os animais.
Os povos indígenas foram sendo cada vez mais expropriados e confinados em pequenos espaços de terra, os chamados Territórios Indígenas que, em geral, são cercados de fazendas por todos os lados e, muitas vezes, não possuem terras suficientes para garantir a sobrevivência com dignidade desses povos.
A história mostra que uma das estratégias mais utilizadas para matar os indígenas com o fim de tomar as suas terras é a contaminação de grupos com doenças vindas dos brancos, como a varíola, tuberculose e a epidemia de gripe e sarampo que dizimou diversas etnias no século XX.
O Estado brasileiro de hoje, sob o comando de Bolsonaro, impõe um governo de direita (tendendo para a extrema direita) que é declaradamente a serviço dos maiores inimigos dos povos indígenas, ou seja, grandes produtores do agronegócio, latifundiários, madeireiros e mineradoras. Assume uma postura ativa de incentivo e apoio àqueles que invadem e cometem violências contra os indígenas, não apenas se omitindo quanto ao seu papel de fiscalizador, mas propondo ações que violam cotidianamente os direitos constitucionais dessa população, reforçando práticas e discursos genocidas.
De modo muito conveniente aos interesses desses grupos que dão sustentação ao governo Bolsonaro, o vírus Covid-19 chegou rapidamente aos povos indígenas, tal como pavio de pólvora, com evidentes indícios de negligência para com essa população, sabidamente mais vulnerável a doenças infecciosas.
Diante da pandemia que avança sobre seus territórios, muitos povos indígenas têm se organizado para sobreviver e resistir como podem para impedir a infecção pelo coronavírus, criando barreiras sanitárias nas aldeias, evitando ir às cidades e contando com a solidariedade dos amigos da causa indígena para acessarem produtos de higiene e ferramentas para a pesca, haja visto que o Estado não tem garantido as condições mínimas para a sobrevivência, para evitar o contágio e cuidar daqueles indígenas que foram contaminados.
No estado de Mato Grosso, de acordo com a contabilização feita pela Associação de Povos Indígenas do Brasil, em 11/09 já eram mais de 1600 indígenas contaminados e 73 mortos.
Um apelo por solidariedade aos povos do Xingu
Do Baixo Xingu, pelo whatsapp, chega um apelo por solidariedade pela voz de um jovem indígena, dirigido aos movimentos sociais do campo popular de Mato Grosso:
“Companheiro, estou sem acesso a internet, a gente está isolado. Devido a pandemia, nós mudamos do polo central onde estávamos residindo até o ocorrido, nós perdemos uma família devido às complicações da Covid 19. Na nossa cultura, quando acontece alguma coisa, a gente busca outros lugares para estar com a família. E aí, a nossa família está construindo uma comunidade lá, um lugar pra gente, então não estamos tendo acesso à internet, por enquanto. Mas buscando apoio para em breve ter uma instalação lá pra gente, porque a gente precisa para dar continuidade ao nosso trabalho. Estamos agora bem próximos de um outro povo indígena, eu agora estou tendo bastante contato com eles e pretendo colocar eles em contato com vocês, acho importante a gente socializar, para que o povo branco possa entender como estamos organizados. Então, a gente tem bastante demanda aqui no nosso povo, aqui do Xingu e acredito que tem outros povos indígenas que também têm demandas devido a pandemia… Porque mudou totalmente nossos hábitos. Tem chegado apoio, não muito, algumas coisinhas. O que o pessoal mais oferece é cesta básica, só que a gente precisa mais do que a cesta básica, como ferramentas, sabão, isqueiro, sabonete, produtos de higiene, faca, facão, lima, essas coisas. Já faz aproximadamente seis meses que a gente está parado aqui… A gente não consegue ter acesso fora da TIX (Terra Indígena Xingu). Daí eu gostaria de ver se vocês conseguem mobilizar aí alguns parceiros, pegar carona, para que possam nos ajudar, mobilizar, articular para adquirir essas coisas e mandar pra gente também. A gente ficaria muito feliz com isso, as comunidades, que realmente estão precisando. Eu não procurei você antes porque eu também sei que vocês tem a demanda de vocês aí… Mas é que eu vejo aqui, as comunidades super precisam dessas coisas. E não é só cestas básicas. A gente tem alimento da gente aqui também, que a gente consome. Não quer dizer que a gente não precisa também das cestas. Mas não tanto quanto os materiais que as comunidades estão precisando para trabalhar e para dar continuidade no trabalho de roçada. Daí já passa um tempo, aí posteriormente ver o tempo da queimada pras roças, e depois vem o período do plantio das roças… Então a gente vai precisar de bastante material. Eu aguardo posicionamento seu, uma resposta sua para ver o que que você me fala, tá bom? Um abraço até mais.”
Diante da resposta positiva, o reforço:
“Obrigadão aí pela força companheiro, pela parceria também e pela compreensão também. A gente está há seis meses sem sair. Como você sabe o Xingu é muito extenso, são 16 povos. Tem chegado apoio, mas não atende todo mundo, não consegue atender todo mundo, então por isso eu estou falando com vocês. Eu conversei aqui com uns povos parentes, que tem mais ou menos duas ou três aldeias, e tem o meu povo também, né? Então como a gente está em várias aldeias, então o que que foi a metodologia que eu montei lá. Eu achei que daria para gente dividir os trabalhos com outros parceiros. Então, aqui, a gente conversando, o pessoal aqui e o cacique lá de outra aldeia que fica na região onde a gente mora, a gente decidiu buscar algum tipo de apoio para 10 aldeias que são Parureda, Caiçara, Tuba-tuba, Maidicá, Camaçari, Aiporé, Paranaíta, Castanhal, Três Patos e Ciato. Dessas aldeias, a gente já fez um pequeno levantamento também, a maior população aqui é o povo Yudjá, dá um total de 150 famílias nas 10 aldeias. Então as ferramentas para trabalho, produto de higiene que não falei, o sabão, sabonete, bombril de lavar panela também, creme dental, escova de dentes, essas coisas também são bem vindo. Botinas, chinelos havaianas. Que a gente precisa além das cestas, né? Assim, que nem eu falei, a gente tem a comida nossa que é farinha, bijú, caça… A gente precisa também de óleo de comida, sal, açúcar também que a gente consome hoje, né? Não muito, mas a gente consome para adoçar algumas coisas. Então, por isso a cesta também é fundamental pra gente, é importante também, porque tem algumas coisas também que a gente usa também no nosso dia a dia. Então é isso!”
Essa é a história que motivou os movimentos sociais do campo popular de Mato Grosso – MST, Consulta Popular e Levante Popular da Juventude, em parceria com a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso (ADUFMAT) lançarem uma campanha conclamando toda a sociedade para doar ferramentas para trabalho na roça, pesca e materiais de higiene e limpeza para atender as necessidade de 10 aldeias da região do baixo Xingu.
Nesse momento, onde a existência concreta desses povos está mais uma vez ameaçada, é importante nos atentarmos para a importância de fortalecermos a luta pela defesa de suas formas de vida, pela preservação de suas múltiplas e diversas culturas e de seus territórios. Não obstante, para além de apoiarmos a luta, é preciso que nossa relação com os povos originários seja de aprendizagem, que a gente possa aprender com a riqueza de suas culturas e com sua relação de respeito para com a natureza e com outros seres humanos.
As organizações conclamam toda a sociedade a se juntar a essa causa e contribuir com a preservação das comunidades indígenas do baixo Xingu, em Mato Grosso, doando produtos de limpeza, material de trabalho na roça e para pesca (vide lista abaixo).
As doações podem ser entregues na sede da ADUFMAT, em Cuiabá, ou por meio de depósito na conta abaixo. Mais informações no face da AAMOBEP – https://www.facebook.com/aamobep/ – pelo email aamobep@gmail.com ou pelo telefone (65)981094569.
Nome: AAMOBEP (Ass. Amigas/os do Centro de Formação e Pesquisa Olga Benário Prestes)
CNPJ: 18.208.193/0001-36
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3325
Operação: 1
Conta: 100.113-2
LISTA DOS MATERIAIS SOLICITADOS:
Amazônia
Em Santarém (PA), indígena picado por cobra morre por falta de atendimento
Publicadoo
5 anos atrásem
05/10/20
Em carta, povo Kumaruara denuncia descaso do poder público com a saúde indígena
No começo da noite do último domingo (4), Alberto Castro Bispo, indígena do povo Kumaruara, faleceu, vítima de uma picada de cobra, e do descaso do poder público. Alberto foi picado pela manhã, mas só conseguiu ser atendido no final da tarde. A SESAI (Secretaria de Saúde Indígena) alegou que não tinha horas de voo disponíveis de helicóptero para fazer o atendimento, nem marinheiro para pilotar a lancha até a aldeia.
Neste momento, a esposa de Alberto está em Santarém, tentando liberar a liberação do corpo de seu companheiro; também encontra dificuldade para conseguir, com a SESAI, transporte até a aldeia. Parentes de Alberto estão em frente à SESAI, protestando contra o descaso na saúde indígena.
A reportagem dos Jornalistas Livres está acompanhando o caso. Segue a carta do povo Kumaruara.
CARTA/MANIFESTO DE REVOLTA DO POVO KUMARUARA
É com pesar que o povo Kumaruara comunica que está em LUTO.
Uma perda que poderia ter sido evitada, os povos da floresta continuam padecendo e morrendo pela falta de assistência médica dentro da Amazônia, sem posto de saúde, rádio transmissão e ambulancha para socorro.
Sr. Alberto Castro Bispo, pertencente do povo Kumaruara, aldeia Mapirizinho nas margens do rio Tapajós foi picado por uma cobra surucucu, neste domingo (04/10/20) por volta de 9 horas da manhã no meio da floresta, quando conseguiu chegar na aldeia se arrastando pedindo socorro era 11 horas, a hora em que a aldeia começou se mobilizar, entrando em contato com órgão competente SESAI e SAMU para fazerem remoção do paciente.
No primeiro momento a SESAI justificou que não tem “hora vôo” para fazer remoção de helicóptero e nem marinheiro para lanchas e ambulânchas da SESAI, transporte que chegou no mês de julho em Santarém. Estamos há meses esperando que a SESAI faça contratação dos barqueiros.
O SAMU respondia que a ambulancha da SEMSA estava fazendo outro serviço de remoção na região do Lago Grande, e que só iriam ser possível busca-lo ás 17 horas. Ou seja, apenas 1 ambulancha disponível para fazer socorro em uma extensa região de rios.
Os postos de saúde até as comunidades mais próximas (Suruacá e Parauá), tem a distância de 15 km, mas de nada adiantava levar porque não tem soro antiofídico nas UBS dentro da Amazônia. Isso é inadmissível!
Estamos tristes e revoltados, já passamos por tantas humilhações, foi com muita luta que conseguimos o helicóptero para DSEI GUATOC fazer remoção dos indígenas do Baixo Tapajós. E agora com o desmonte desse governo genocida/etnocida que continua matando os povos indígenas, corta tudo da noite para o dia. Isso tudo acontecendo, em meio uma crise sanitária mundial, a pandemia da COVID-19, ainda temos que sobreviver as invasões nos territórios de madeireiros, garimpeiros, sojeiros, etc.
O parente chegou às 19h em Alter do Chão, desacordado, tarde demais. Perdemos mais um Kumaruara por negligencia do desgoverno, que trata sem importância a vida de quem mora do outro lado do rio. Esse é um caso relatado, de muitos que acontecem na Amazônia com indígenas, quilombolas e ribeirinhos, continuamos sem acesso a saúde pública de qualidade dentro da nossa realidade.
Já estamos há 4 anos vinculados ao DSEI GUATOC (sede em Belém), sentimos muita dificuldade em atuar como controle social. As equipes que entram em área de forma ambulantes, e é um trabalho exaustivo, que depende até de força corporal para carregar malas, isopor com gelo, rancho e aparelho respiratório, que agora nesse período de verão aumenta ainda mais as dificuldades de deslocamento de uma aldeia para outra.
Por isso, reiteramos novamente ao Poder Legislativo a criação de um próprio DSEI para região do Baixo Tapajós. Pedimos ao Ministério Público Federal e Estadual, que fiscalize as prestações de conta do dinheiro público direcionados as políticas públicas de saúde, neste município.
Não suportamos mais viver, vendo os parentes morrerem em nossos braços. Queremos ser olhados e assistidos de forma digna como seres humanos. VIDAS INDÍGENAS IMPORTAM!!!
Trending
-

 7 anos atrás
7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad
-

 Política7 anos atrás
Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?
-

 7 anos atrás
7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão
-

 Lava Jato6 anos atrás
Lava Jato6 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”
-

 Educação7 anos atrás
Educação7 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano
-

 #EleNão7 anos atrás
#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”
-

 Política7 anos atrás
Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele
-

 Eleições Municipais 20168 anos atrás
Eleições Municipais 20168 anos atrásA Impressionante Ficha Corrida de João Doria (em 22 itens)
