

Pela segunda vez, a CryptoRave, que acontece em 24 e 25 de abril, em São Paulo, terá oficina para mulheres “Isso não é um evento hacker,...
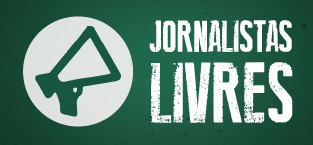
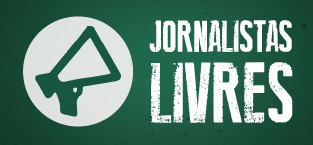
Foto: Roberto Setton No dia 28 de março, a loja Animale, localizada na Rua Oscar Freire em São Paulo, foi acusada de racismo por expulsar um...



Em ato simbólico, mais de 15 mil trabalhadores e trabalhadoras cruzaram os braços, na manhã desta quarta (14), em montadoras do ABC Um grito de apelo...
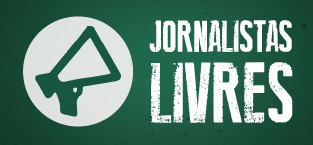
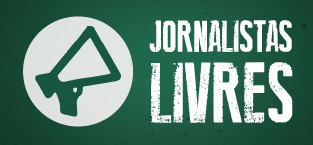
Boletim Nº1 do grupo de trabalho de Formação dos Jornalistas Livres Car@s companheir@s, Estamos vivendo um momento muito triste. A violência policial ultrapassou há tempos...
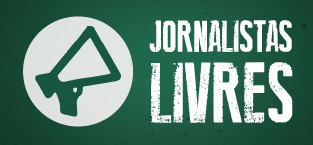
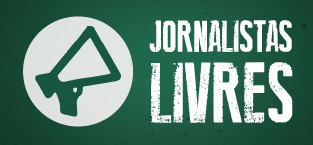
Três militantes visitam o Memorial da Resistência com nossa equipe de reportagem. Eles relatam o passado de prisão e tortura; comentam os pedidos de intervenção...
A entrevista a seguir foi feita no meio de 2014. Na ocasião, o pesquisador Fábio Mallart, que viveu de perto a rotina da Fundação Casa, acabava...