Conecte-se conosco



No próximo sábado, 9/4, durante o 21º Festival Internacional de Documentários “É tudo verdade”, estréia o filme “O Oco da Fala”, que foi produzido pela Clínica do Testemunho...
Nem só de militares viveu a ditadura; confira lista de ruas, praças e escolas que usam nomes de empresários que financiaram o golpe Nesta quinta-feira...
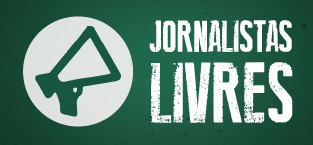
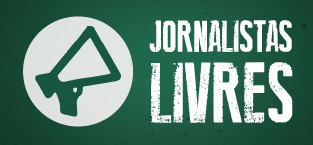
Os primeiros mortos da ditadura civil-militar tinham ainda a lembrança do discurso de João Goulart para mais de um milhão de pessoas. O primeiro dia do...