“A transfobia não pode ir para a rua de farda” — Rildo Marques de Oliveira Em reunião com a sociedade civil, o Condepe, Conselho Estadual de Defesa...


Caravana de familiares dos 43 estudantes desaparecidos no México percorre América Latina para denunciar o terrorismo de Estado A mulher de mãos finas, rosto enrugado, traços...
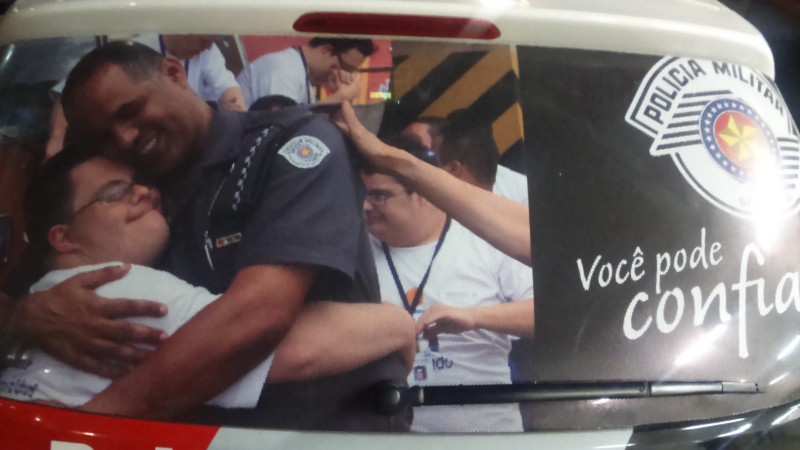
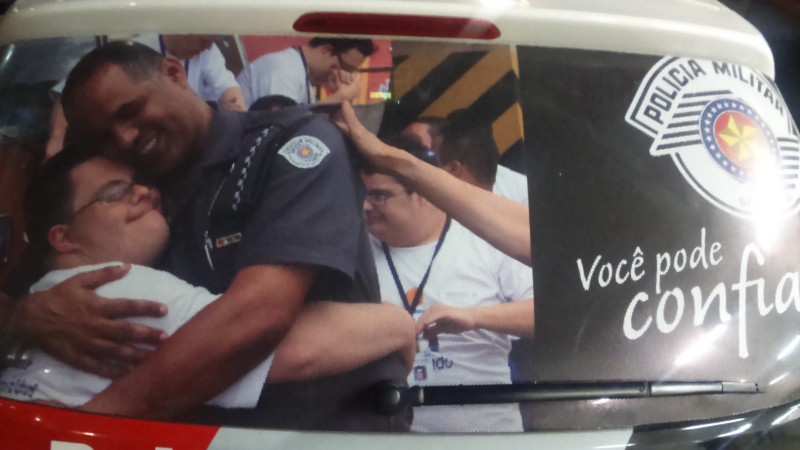
Domingo, 3 de maio de 2015. Uma final de campeonato toma conta de boa parte da atenção dos paulistanos. Na avenida Rio Branco, precisamente no...



É inacreditável o que vimos acontecer no Paraná no dia 29 de abril de 2015. Pelo menos uma hora e meia de ataques da polícia...



O massacre a que Curitiba assistiu no 29 de abril A série de explosões começou a ser ouvida pouco antes das três da tarde. Quem estava...


Para cada jovem branco morto, morrem três negros. Mais de 70 mil jovens negros morrem por ano. Tais dados comprovam que, em pleno século XXI, a...