Conecte-se conosco


Estado Democrático de Direito Após as revoluções liberais ou burguesas – inglesa, francesa e americana –, podemos observar que o Estado moderno passou a existir sob...
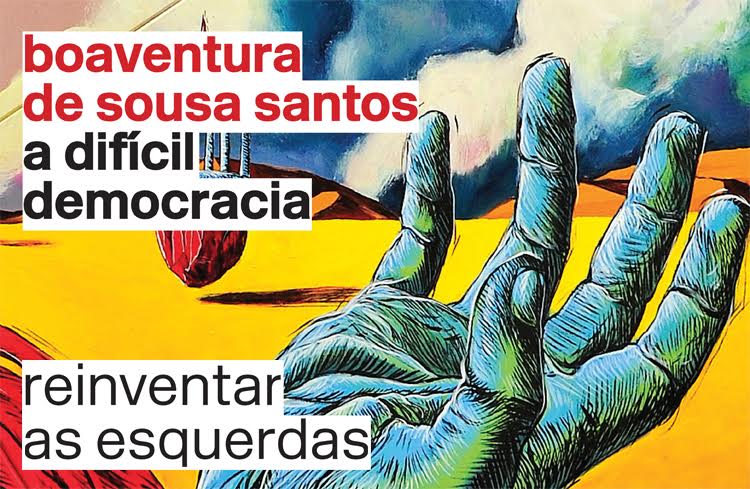
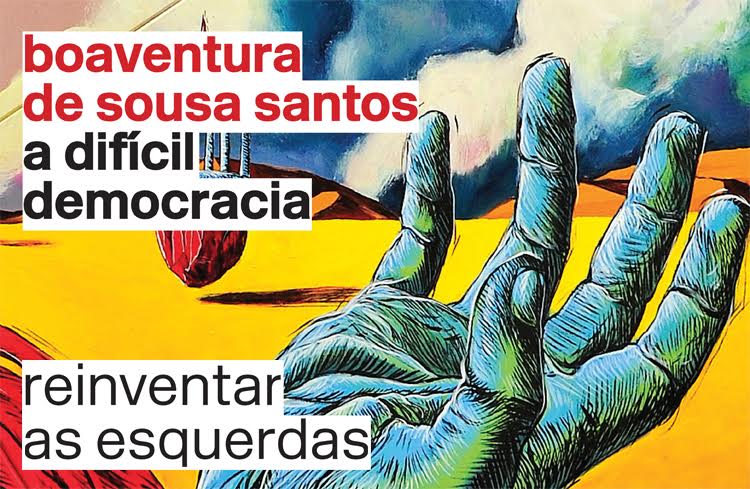
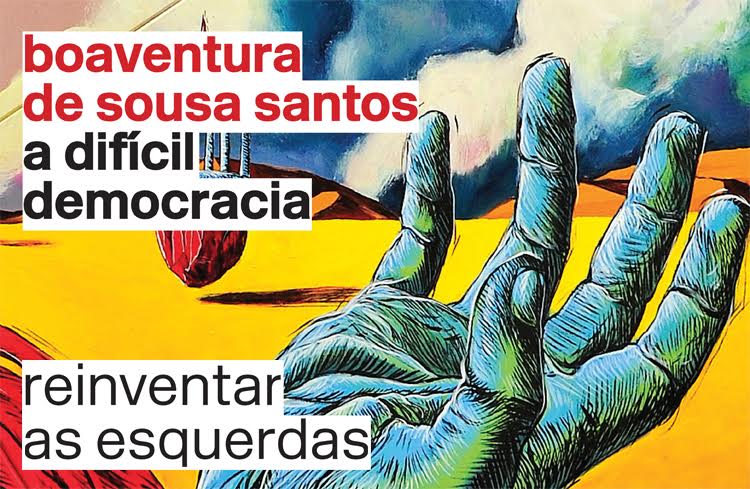
Amargar um golpe à direita, consolidado por eleições municipais. Eis o que temos para esse fim de ano. Uma alternativa a padecer, talvez seja voltar o...