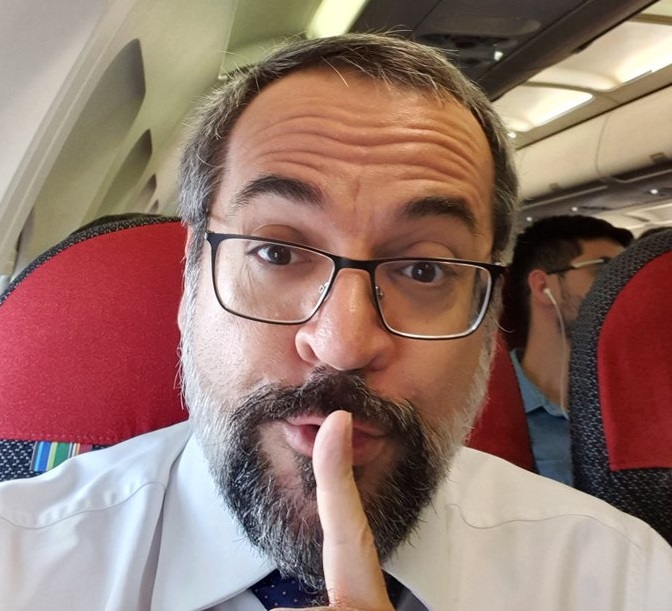
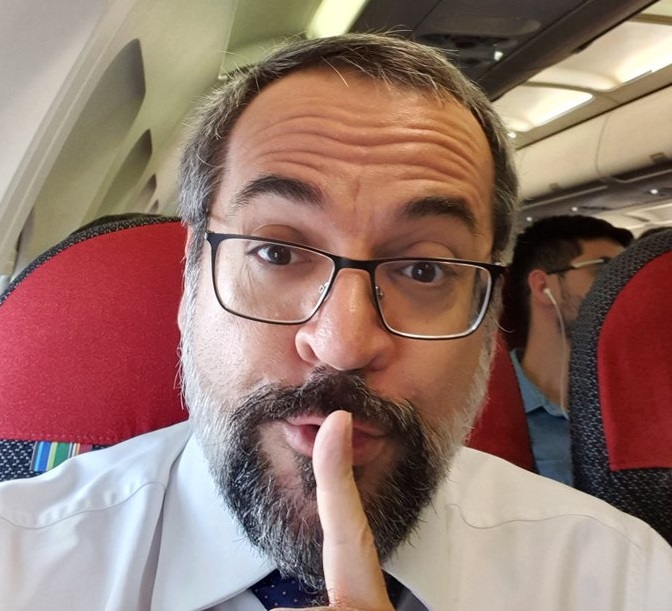
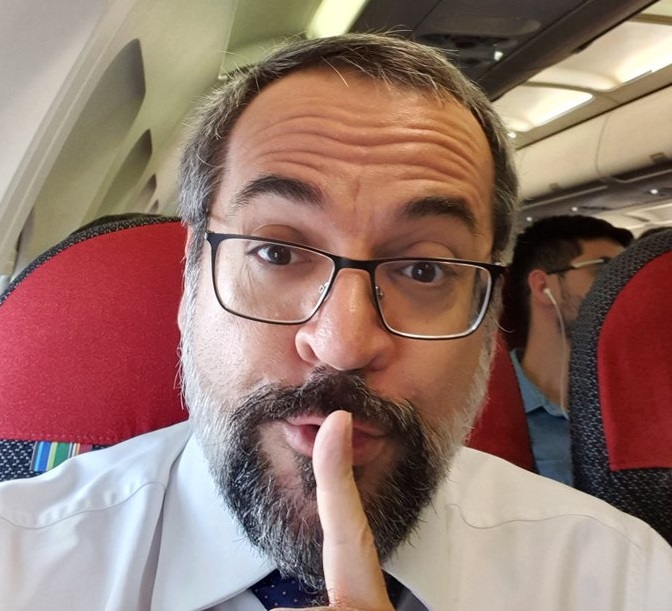
Por Ricardo Melo* Um belo dia, o finado político Abraham Weintraub saiu-se mais ou menos assim ao ser perguntado se haveria adiamento do ENEM. A transcrição...



“Nóis não tá nisso pra ficar rico. Nóis tá nisso pra mudar o mundo.” (Paulo Lima, o Galo) A manifestação dos entregadores de aplicativos, que aconteceu...



Por Ricardo Melo* Junto ao embaixador dos EUA, Bolsonaro e alguns de seus comparsas festejam o 4 de julho, a data da independência… americana! Todos sem...



Por Laura Capriglione e Lina Marinelli “Aqui tudo parece Que era ainda construção E já é ruína Tudo é menino, menina No olho da rua O...



Por Ricardo Melo* A mídia golpista festeja. FHC pede tolerância diante do capitão. Fernando Haddad e Guilherme Boulos aceitam o papel de vallets numa live pela...



Por Eliane Brum, em texto originalmente publicado no El País Brasil Fotos: Sílvia Guimarães / Arquivo Pessoal Três mulheres vivem um horror para o qual será...